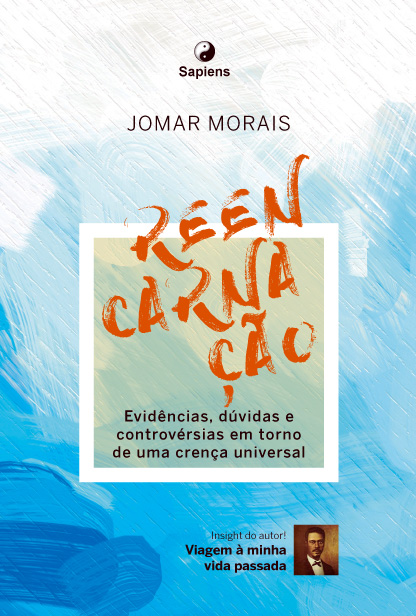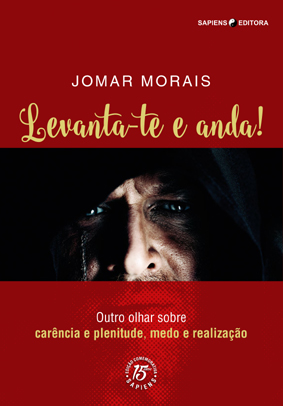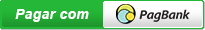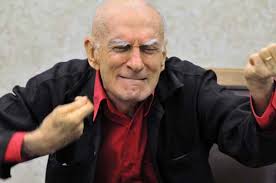Ano 27 Editado por Jomar Morais

Clipping & Ideias

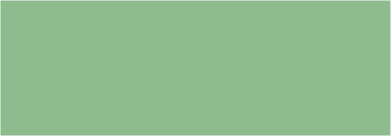
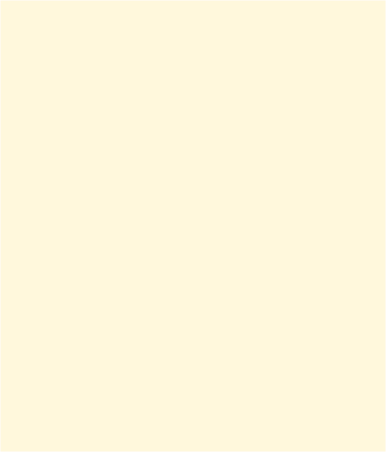
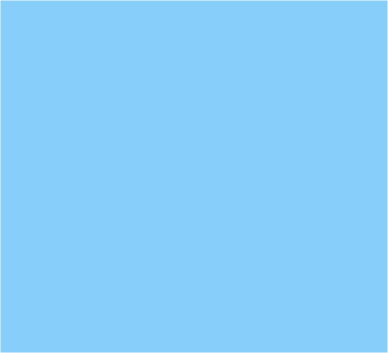
Para receber envie "Sim" e seu nome via Whatsapp:
(84) 99983-4178
(84) 99983-4178
PLANETA*Zap

LEITOR SOLIDÁRIO
Planeta Jota é um site independente com olhar diferenciado sobre temas essenciais. Doe qualquer valor e ajude este projeto iniciado há 26 anos.
Informe-nos sobre sua doação
e ganhe um livro digital do Sapiens
e ganhe um livro digital do Sapiens
Ao vivo na TV Sapiens

https://youtube.com/sapiensnatal
Acesse a programação. Inscreva-se no canal
Acesse a programação. Inscreva-se no canal
Planeta Jota é um website sem fins lucrativos editado pelo jornalista Jomar Morais, desde maio de 1995, com a ajuda de voluntários. Saiba mais.
Não publicamos texto editorial pago. Se você deseja ajudar na manutenção deste trabalho, poderá fazê-lo mediante uma doação de qualquer valor via PIX 84-999834178, via Pagseguro ou adquirindo os livros divulgados aqui pelo Livreiro Sapiens. Assim você contribuirá para a difusão de ideias que despertam consciências e mudam o mundo e estimulará os autores que compartilhamos.
Não publicamos texto editorial pago. Se você deseja ajudar na manutenção deste trabalho, poderá fazê-lo mediante uma doação de qualquer valor via PIX 84-999834178, via Pagseguro ou adquirindo os livros divulgados aqui pelo Livreiro Sapiens. Assim você contribuirá para a difusão de ideias que despertam consciências e mudam o mundo e estimulará os autores que compartilhamos.
QUEM SOMOS
Compre na Amazon
e receba o livro agora
e receba o livro agora
Pix: 84999834178
Destaque recente
As mutações do sexo. Para onde vamos?
A arte da simplicidade
O vídeo mais visto
ou
Aldenir Dantas
Glácia Marillac
Guto de Castro
Wescley Gama
Jorge Braúna
Textos místicos
Clube da Esquina
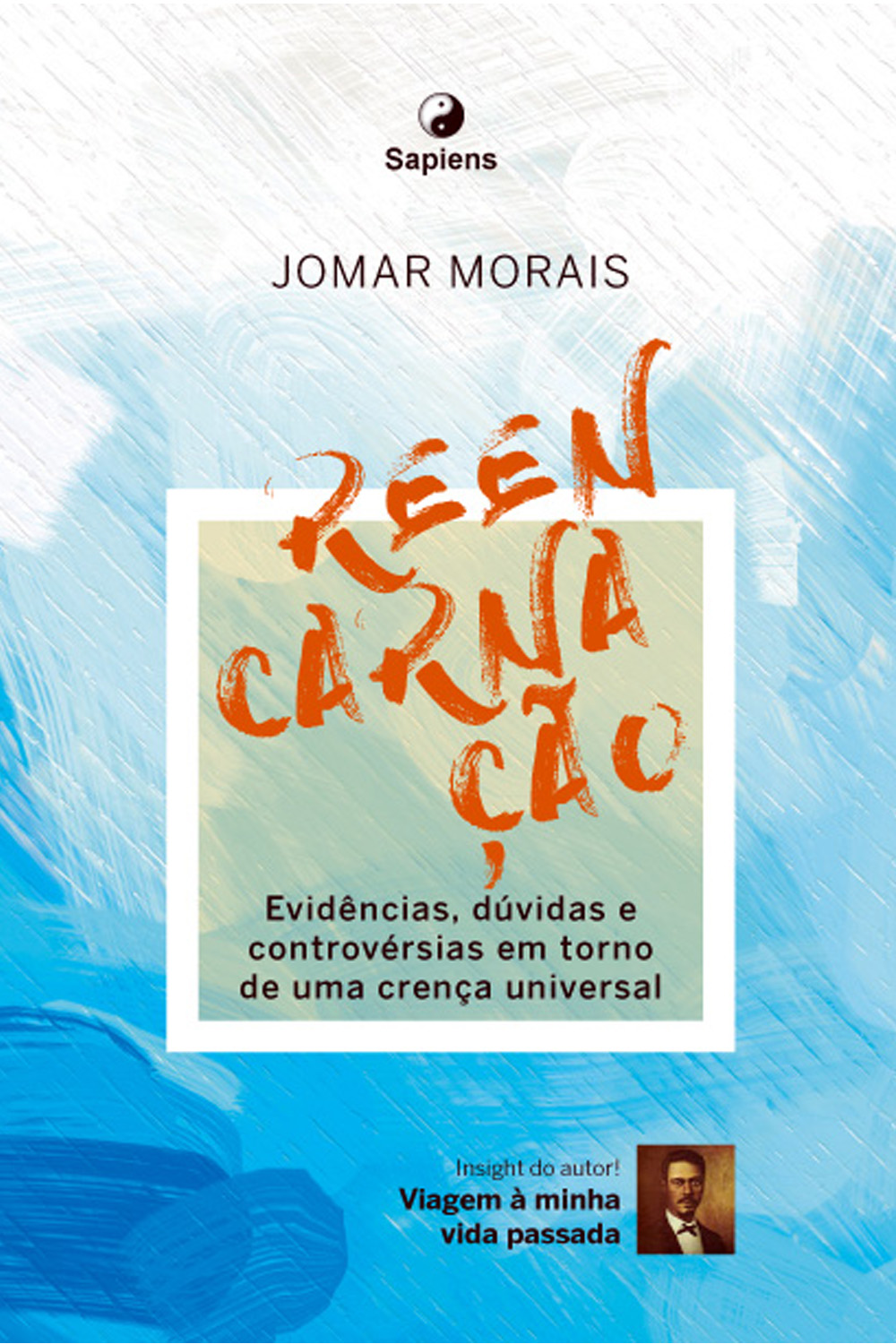

Jomar Morais

LEITURA IMPERDÍVEL !
Você vai rir. Você vai chorar. Você vai refletir.
Contos de
Aldenir Dantas
Aldenir Dantas
Histórias divertidas. Personagens surpreendentes.
Só aqui desconto de 30% !
35 reais + frete (12 reais)
PIX 84-999834178 (celular)
[Envie recibo e endereço via WhatsApp]
Ou compre no cartão em até 18 vezes pelo
35 reais + frete (12 reais)
PIX 84-999834178 (celular)
[Envie recibo e endereço via WhatsApp]
Ou compre no cartão em até 18 vezes pelo

Site antigo, substituido em 12/março/2023. Clique em "INÍCIO" e acesse o novo site.
Desejo de Ano Novo
O que eu desejo para 2015? Que todos os homens – os pobres e os ricos, os sábios e os tolos – leiam e reflitam sobre o Eclesiastes. Este livro da Bíblia, cuja autoria é, às vezes, atribuída ao rei Salomão, é uma peça poética de profundo significado filosófico, que pode descortinar novas paisagens para o viajante perplexo.
Seu autor desconstrói as ilusões de um tipo de sociedade, com o seu ideal de riqueza, poder, ciência, prazeres, status social e trabalho para enriquecer, chamando a atenção para o sentido da vida a partir de uma pergunta fundamental: «Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol?»
O Eclesiastes é atual. Combina com a visão cíclica da vida, que se opõe à linearidade do pensamento convencional, seja acadêmico ou religioso, e resgata a sabedoria de uma percepção cosmogônica na qual o ego perde o poder de gerar tanto medo e sofrimento. Destrói uma falsa concepção de Deus e da vida e remete-nos a uma nova concepção na qual a vida aparece como, realmente, um dom gratuito e divino para que todos a partilhem com justiça e fraternidade.
Sua leitura e meditação, penso, deveria ser obrigatória nas escolas. Talvez, assim, teríamos um mundo mais amável, disposto a celebrar as dádivas e multiplicá-las, livre de ansiedade e angústia.
Assim falava Coélet, o pregador:
“ Eu resolvi pesquisar e investigar com sabedoria tudo o que acontece debaixo do céu. Essa é uma tarefa penosa que Deus entregou aos homens, para com ela ficarem ocupados. Então examinei as coisas que se fazem debaixo do sol, e cheguei à conclusão de que tudo é fugaz, uma corrida atrás do vento. (…)
“Decidi então conhecer a sabedoria e a ciência, assim como a tolice e a loucura. E compreendi que também isso é correr atrás do vento, porque, onde há muita sabedoria, há também muita tristeza, e onde há mais conhecimento, há também mais sofrimento. (...)
“Debaixo do céu há momento para tudo, e tempo certo para cada coisa: Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar a planta. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para bailar. Tempo para atirar pedras e tempo para recolher pedras. Tempo para abraçar e tempo para se separar. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. (…)
“Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga? Observei a tarefa que Deus entregou aos homens, para com ela se ocuparem: tudo o que ele fez é apropriado para cada tempo. Também colocou o senso da eternidade no coração do homem, mas sem que o homem possa compreender a obra que Deus realiza do começo até o fim. Então compreendi que não existe para o homem nada melhor do que se alegrar e agir bem durante a vida.”
Feliz 2015!
30/12/2014
O que eu desejo para 2015? Que todos os homens – os pobres e os ricos, os sábios e os tolos – leiam e reflitam sobre o Eclesiastes. Este livro da Bíblia, cuja autoria é, às vezes, atribuída ao rei Salomão, é uma peça poética de profundo significado filosófico, que pode descortinar novas paisagens para o viajante perplexo.
Seu autor desconstrói as ilusões de um tipo de sociedade, com o seu ideal de riqueza, poder, ciência, prazeres, status social e trabalho para enriquecer, chamando a atenção para o sentido da vida a partir de uma pergunta fundamental: «Que proveito tira o homem de todo o trabalho com que se afadiga debaixo do sol?»
O Eclesiastes é atual. Combina com a visão cíclica da vida, que se opõe à linearidade do pensamento convencional, seja acadêmico ou religioso, e resgata a sabedoria de uma percepção cosmogônica na qual o ego perde o poder de gerar tanto medo e sofrimento. Destrói uma falsa concepção de Deus e da vida e remete-nos a uma nova concepção na qual a vida aparece como, realmente, um dom gratuito e divino para que todos a partilhem com justiça e fraternidade.
Sua leitura e meditação, penso, deveria ser obrigatória nas escolas. Talvez, assim, teríamos um mundo mais amável, disposto a celebrar as dádivas e multiplicá-las, livre de ansiedade e angústia.
Assim falava Coélet, o pregador:
“ Eu resolvi pesquisar e investigar com sabedoria tudo o que acontece debaixo do céu. Essa é uma tarefa penosa que Deus entregou aos homens, para com ela ficarem ocupados. Então examinei as coisas que se fazem debaixo do sol, e cheguei à conclusão de que tudo é fugaz, uma corrida atrás do vento. (…)
“Decidi então conhecer a sabedoria e a ciência, assim como a tolice e a loucura. E compreendi que também isso é correr atrás do vento, porque, onde há muita sabedoria, há também muita tristeza, e onde há mais conhecimento, há também mais sofrimento. (...)
“Debaixo do céu há momento para tudo, e tempo certo para cada coisa: Tempo para nascer e tempo para morrer. Tempo para plantar e tempo para arrancar a planta. Tempo para matar e tempo para curar. Tempo para destruir e tempo para construir. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para bailar. Tempo para atirar pedras e tempo para recolher pedras. Tempo para abraçar e tempo para se separar. Tempo para procurar e tempo para perder. Tempo para guardar e tempo para jogar fora. Tempo para rasgar e tempo para costurar. Tempo para calar e tempo para falar. (…)
“Que proveito o trabalhador tira de sua fadiga? Observei a tarefa que Deus entregou aos homens, para com ela se ocuparem: tudo o que ele fez é apropriado para cada tempo. Também colocou o senso da eternidade no coração do homem, mas sem que o homem possa compreender a obra que Deus realiza do começo até o fim. Então compreendi que não existe para o homem nada melhor do que se alegrar e agir bem durante a vida.”
Feliz 2015!
Enviar Comentário

Um presépio vivo
É difícil escrever sobre o Natal sem nos reportarmos à magia com a qual revestimos o evento mais simbólico de nossa civilização cristã. Como nas antigas religiões orientais, a narrativa do nascimento de nosso avatar – Jesus de Nazaré – é adornada de referências extraordinárias, como a estrela dos magos e o cântico dos anjos, marcos transcendentais em torno de um acontecimento tão humano e tão humilde: um menino pobre nascendo numa gruta.
Certamente teríamos dificuldade de reconhecer e aceitar o status celeste de alguém cuja vida transcorresse no fluxo da mera normalidade.
Os séculos e a nossa carência de estímulos físicos adicionaram ao Natal ainda mais cores e sons, até ao ponto em que, embalada como presente que só o dinheiro pode comprar, para muitos a noite natalina deixou de ter qualquer contato com o evento místico do qual nos fala o Evangelho e seu significado espiritual e cosmogônico.
O pinheiro introduzido na paisagem de relva onde teria nascido o filho de Maria transformou-se na luminescente Árvore de Natal, high-tech e ansiosa, que chega aos shopping centers já em outubro para lembrar-nos que é hora de comprar presentes e estocar para a ceia. Numa pálida representação de São Nicolau, que no século 4 distribuia comida aos pobres em 24 de dezembro, um Papai Noel estilizado pela Coca-Cola aos poucos roubou a cena do aniversariante no imaginário das crianças e dos adultos.
Nada contra a árvore cintilante e nem o bom velhinho. Bem colocados, eles só acrescentariam alegria à rememoração das raízes de nossa fé. Mas... e o presépio? Onde está o presépio?
Foi Francisco, o “louco” de Assis, quem, em 1223, teve a ideia de introduzí-lo na iconografia natalina numa época em que já havia a dificuldade de entender o simbolismo original da natividade. Uma manjedoura, um burro, uma vaca. Simples assim. Os animais vivos, podendo ser tocados e até entendidos, em sua ruidosa saudação ao Cristo, por aqueles que, como Francisco, tivessem coração e alma para perceber os sinais divinos da natureza.
O presépio de Francisco, em nosso tempo de poucos presépios, certamente nos chamaria ao sentido maior da espiritualidade, que não carece de magia para revelar-se a quem tem “olhos de ver”, pois é imanência divina em cada irmão, em cada manifestação da vida, em cada forma do universo. E com um olhar franciscano e terno, sem prejuízo de nossa festa familiar, seríamos capazes de revisitar a gruta de Belém nos guetos de nosso mundo individualista para reencontrar ali o menino Jesus no olhar de quem sofre por causa de nossa indiferença.
A verdade é que existe um presépio vivo em torno de nós. No Natal e no ano inteiro. E há uma estrela guia e o cântico dos anjos para todo aquele que, vendo Deus através de suas criaturas, jamais esquece a mensagem do menino da manjedoura: “Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes”.
Feliz Natal!
23/12/2014
É difícil escrever sobre o Natal sem nos reportarmos à magia com a qual revestimos o evento mais simbólico de nossa civilização cristã. Como nas antigas religiões orientais, a narrativa do nascimento de nosso avatar – Jesus de Nazaré – é adornada de referências extraordinárias, como a estrela dos magos e o cântico dos anjos, marcos transcendentais em torno de um acontecimento tão humano e tão humilde: um menino pobre nascendo numa gruta.
Certamente teríamos dificuldade de reconhecer e aceitar o status celeste de alguém cuja vida transcorresse no fluxo da mera normalidade.
Os séculos e a nossa carência de estímulos físicos adicionaram ao Natal ainda mais cores e sons, até ao ponto em que, embalada como presente que só o dinheiro pode comprar, para muitos a noite natalina deixou de ter qualquer contato com o evento místico do qual nos fala o Evangelho e seu significado espiritual e cosmogônico.
O pinheiro introduzido na paisagem de relva onde teria nascido o filho de Maria transformou-se na luminescente Árvore de Natal, high-tech e ansiosa, que chega aos shopping centers já em outubro para lembrar-nos que é hora de comprar presentes e estocar para a ceia. Numa pálida representação de São Nicolau, que no século 4 distribuia comida aos pobres em 24 de dezembro, um Papai Noel estilizado pela Coca-Cola aos poucos roubou a cena do aniversariante no imaginário das crianças e dos adultos.
Nada contra a árvore cintilante e nem o bom velhinho. Bem colocados, eles só acrescentariam alegria à rememoração das raízes de nossa fé. Mas... e o presépio? Onde está o presépio?
Foi Francisco, o “louco” de Assis, quem, em 1223, teve a ideia de introduzí-lo na iconografia natalina numa época em que já havia a dificuldade de entender o simbolismo original da natividade. Uma manjedoura, um burro, uma vaca. Simples assim. Os animais vivos, podendo ser tocados e até entendidos, em sua ruidosa saudação ao Cristo, por aqueles que, como Francisco, tivessem coração e alma para perceber os sinais divinos da natureza.
O presépio de Francisco, em nosso tempo de poucos presépios, certamente nos chamaria ao sentido maior da espiritualidade, que não carece de magia para revelar-se a quem tem “olhos de ver”, pois é imanência divina em cada irmão, em cada manifestação da vida, em cada forma do universo. E com um olhar franciscano e terno, sem prejuízo de nossa festa familiar, seríamos capazes de revisitar a gruta de Belém nos guetos de nosso mundo individualista para reencontrar ali o menino Jesus no olhar de quem sofre por causa de nossa indiferença.
A verdade é que existe um presépio vivo em torno de nós. No Natal e no ano inteiro. E há uma estrela guia e o cântico dos anjos para todo aquele que, vendo Deus através de suas criaturas, jamais esquece a mensagem do menino da manjedoura: “Em verdade vos digo, todas as vezes que fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizestes”.
Feliz Natal!

O paradoxo da liberdade
Temos com a liberdade uma relação de amor e ódio.
Esteio de nossas melhores utopias, a liberdade é certamente a aspiração mais intensa de qualquer homem ou mulher, depois do desejo de amar e ser amado.
O ideal de agir conforme a própria consciência, de fazer opções e trilhar caminhos livre de qualquer coação física e moral embala nossos sonhos e é a argamassa de nossos melhores projetos pessoais e coletivos.
Pela liberdade vivemos e, se necessário, até morremos - se não nos faltam o idealismo e a coragem com os quais santos, “loucos” e heróis provaram ser possível a materialização de cenários utópicos, refinando assim a dureza da paisagem real.
Apesar disso, a liberdade nos parece desconfortável, e até assustadora, quando, finalmente, ficamos a sós com ela.
Como nos casamentos realizados a toque de caixa, impulsionados pela paixão, a rotina e o dever logo dissolvem a imagem idealizada da companheira e sobra a dificuldade de lidar com as oscilações e contradições de uma situação real, que só a sabedoria e o amor são capazes de encarar e administrar.
A liberdade que nos livra das vontades e do jugo alheios é a mesma que nos entrega o fardo de lidar com a realidade, agir conforme as circunstâncias e nossos princípios e crenças, ser responsáveis por nossas escolhas e colher os frutos de nossa semeadura.
Trata-se de uma contrapartida justa e proporcional e ao valor do presente que recebemos, mas é aí que, quase sempre, completa-se o paradoxo da rejeição daquilo que tanto amamos.
Como crianças inseguras, descobrimos a nossa dificuldade de dizer sim ou não, de realizarmos escolhas e aceitarmos pagar o preço de nossas opções. E não é raro que, diante do medo, muitos optem pela “segurança” da sujeição a um salvador, seja ele uma pessoa, uma doutrina, um partido ou mesmo o movimento de manada através do qual as multidões reagem a ameaças reais ou imaginárias.
O preço da liberdade – sermos responsáveis por nossas escolhas e ações – parece-nos bem mais alto que o de uma existência sem criatividade e sem riscos, atada por grilhões de apego, obediência cega e pela ilusão de poder transferir a alguém ou a um grupo a responsabilidade por nossas vidas.
Não é preciso ser um acadêmico ou cientista para perceber que, no dia a dia, esta é a opção da maioria no nível da vida pessoal, ainda que escamoteada por nossos discursos libertários. E, a partir daí, não é difícil entender porque, em pleno século 21, ainda encontremos vozes clamando por ditaduras ou outras fórmulas autoritárias, à revelia do pacto democrático, para resolver os nossos problemas nacionais.
À parte a disputa pelo poder, o argumento de ter alguém que nos livre da responsabilidade de fiscalizar, cobrar, pressionar pelo funcionamento das instituições – sem subvertê-las ou destruí-las para a satisfação de nossos caprichos – pode ser um apelo sedutor para corações e mentes incomodados com o alto preço da liberdade.
16/12/2014
Temos com a liberdade uma relação de amor e ódio.
Esteio de nossas melhores utopias, a liberdade é certamente a aspiração mais intensa de qualquer homem ou mulher, depois do desejo de amar e ser amado.
O ideal de agir conforme a própria consciência, de fazer opções e trilhar caminhos livre de qualquer coação física e moral embala nossos sonhos e é a argamassa de nossos melhores projetos pessoais e coletivos.
Pela liberdade vivemos e, se necessário, até morremos - se não nos faltam o idealismo e a coragem com os quais santos, “loucos” e heróis provaram ser possível a materialização de cenários utópicos, refinando assim a dureza da paisagem real.
Apesar disso, a liberdade nos parece desconfortável, e até assustadora, quando, finalmente, ficamos a sós com ela.
Como nos casamentos realizados a toque de caixa, impulsionados pela paixão, a rotina e o dever logo dissolvem a imagem idealizada da companheira e sobra a dificuldade de lidar com as oscilações e contradições de uma situação real, que só a sabedoria e o amor são capazes de encarar e administrar.
A liberdade que nos livra das vontades e do jugo alheios é a mesma que nos entrega o fardo de lidar com a realidade, agir conforme as circunstâncias e nossos princípios e crenças, ser responsáveis por nossas escolhas e colher os frutos de nossa semeadura.
Trata-se de uma contrapartida justa e proporcional e ao valor do presente que recebemos, mas é aí que, quase sempre, completa-se o paradoxo da rejeição daquilo que tanto amamos.
Como crianças inseguras, descobrimos a nossa dificuldade de dizer sim ou não, de realizarmos escolhas e aceitarmos pagar o preço de nossas opções. E não é raro que, diante do medo, muitos optem pela “segurança” da sujeição a um salvador, seja ele uma pessoa, uma doutrina, um partido ou mesmo o movimento de manada através do qual as multidões reagem a ameaças reais ou imaginárias.
O preço da liberdade – sermos responsáveis por nossas escolhas e ações – parece-nos bem mais alto que o de uma existência sem criatividade e sem riscos, atada por grilhões de apego, obediência cega e pela ilusão de poder transferir a alguém ou a um grupo a responsabilidade por nossas vidas.
Não é preciso ser um acadêmico ou cientista para perceber que, no dia a dia, esta é a opção da maioria no nível da vida pessoal, ainda que escamoteada por nossos discursos libertários. E, a partir daí, não é difícil entender porque, em pleno século 21, ainda encontremos vozes clamando por ditaduras ou outras fórmulas autoritárias, à revelia do pacto democrático, para resolver os nossos problemas nacionais.
À parte a disputa pelo poder, o argumento de ter alguém que nos livre da responsabilidade de fiscalizar, cobrar, pressionar pelo funcionamento das instituições – sem subvertê-las ou destruí-las para a satisfação de nossos caprichos – pode ser um apelo sedutor para corações e mentes incomodados com o alto preço da liberdade.

Medidas do amor
Há uma medida para o amor? A resposta é não.
Como podemos medir aquilo cujos limites desconhecemos? Aquilo cuja essência nem sequer pode ser traduzida numa definição ou conceito, apesar do esforço dos poetas e dos pesquisadores dos mistérios da vida.
O amor é para ser sentido e vivido. Existe para que a ele nos entreguemos e o deixemos guiar nossos sonhos e passos.
O amor não se faz. O amor não se acomoda a um aspecto da vida, como as relações nascidas da magia do sexo. O amor simplesmente é, abrangendo e permeando tudo em sua infinitude.
Ainda assim, em nossa ânsia de posse, tentamos abarcá-lo e medí-lo, numa refinada tentativa de submetê-lo ao nosso controle.
A ideia mais remota e mais sublime que guardo sobre o tamanho do amor é o provérbio que diz: “A medida do amor está na capacidade de renúncia”. Li isso, ainda na infância, numa página da antiga Folhinha do Sagrado Coração de Jesus e até hoje a frase me parece plena de sentido. Trata-se de uma visão essencialmente cristã que, a meu ver, só precisa ser atualizada (ou explicada) no que diz respeito à palavra renúncia.
No contexto de um mundo movido a individualismo, materialismo e excitação do desejo à décima potência, o termo renúncia traz uma conotação de dor e sofrimento, o que não é verdadeiro quando desistimosde algo inspirado pelo amor. Talvez, se trocássemos a palavra renúncia por doação, ficasse mais fácil entender que podemos sentir alegria e realização ao abrirmos mão de algo em benefício de alguém ou de uma causa – espontaneamente, não sob a espada dos caprichos de um ego inflado.
Recentemente fui despertado para outra medida do amor, ao deparar-me, na Internet, com um vídeo do padre midiático Fábio de Melo. O religioso adverte sobre o fato de as pessoas amarem apenas a quem lhes pode ser útil, descartando do rol de seus afetos todo aquele que se transforma em um fardo a ser carregado ou quem já não pode massagear nossos egos com a concordância incondicional. Padre Fábio então conclui que a medida do amor está na capacidade de amar aquilo que nos é inútil.
Na verdade, nesse cenário, já não estamos lidando com amor e, sim, com vis interesses pessoais com os quais nos tornamos desgraçados e indignos do contentamento do amor.
Todos, de algum modo, já sentimos na pele a aridez dos que nos usaram em algum momento da vida, dos que, movidos por interesses mesquinhos, substituíram os elogios e afagos espalhafatosos do tempo em que enxergavam em nós alguma utilidade pela indiferença ou pela a crítica injuriosa e covarde. Mas, a meu ver, esse não é o ponto.
Padre Fábio pede a Deus a bênção de envelhecer ao lado de pessoas que o amem quando ele se tornar “inútil”, o que é compreensível na dimensão humana. O essencial, contudo, é que possamos envelhecer e morrer sem o vazio de um coração pragmático que, por ter se mantido atento às utilidades, atravessou a vida sem conhecer o amor.
09/12/2014
Há uma medida para o amor? A resposta é não.
Como podemos medir aquilo cujos limites desconhecemos? Aquilo cuja essência nem sequer pode ser traduzida numa definição ou conceito, apesar do esforço dos poetas e dos pesquisadores dos mistérios da vida.
O amor é para ser sentido e vivido. Existe para que a ele nos entreguemos e o deixemos guiar nossos sonhos e passos.
O amor não se faz. O amor não se acomoda a um aspecto da vida, como as relações nascidas da magia do sexo. O amor simplesmente é, abrangendo e permeando tudo em sua infinitude.
Ainda assim, em nossa ânsia de posse, tentamos abarcá-lo e medí-lo, numa refinada tentativa de submetê-lo ao nosso controle.
A ideia mais remota e mais sublime que guardo sobre o tamanho do amor é o provérbio que diz: “A medida do amor está na capacidade de renúncia”. Li isso, ainda na infância, numa página da antiga Folhinha do Sagrado Coração de Jesus e até hoje a frase me parece plena de sentido. Trata-se de uma visão essencialmente cristã que, a meu ver, só precisa ser atualizada (ou explicada) no que diz respeito à palavra renúncia.
No contexto de um mundo movido a individualismo, materialismo e excitação do desejo à décima potência, o termo renúncia traz uma conotação de dor e sofrimento, o que não é verdadeiro quando desistimosde algo inspirado pelo amor. Talvez, se trocássemos a palavra renúncia por doação, ficasse mais fácil entender que podemos sentir alegria e realização ao abrirmos mão de algo em benefício de alguém ou de uma causa – espontaneamente, não sob a espada dos caprichos de um ego inflado.
Recentemente fui despertado para outra medida do amor, ao deparar-me, na Internet, com um vídeo do padre midiático Fábio de Melo. O religioso adverte sobre o fato de as pessoas amarem apenas a quem lhes pode ser útil, descartando do rol de seus afetos todo aquele que se transforma em um fardo a ser carregado ou quem já não pode massagear nossos egos com a concordância incondicional. Padre Fábio então conclui que a medida do amor está na capacidade de amar aquilo que nos é inútil.
Na verdade, nesse cenário, já não estamos lidando com amor e, sim, com vis interesses pessoais com os quais nos tornamos desgraçados e indignos do contentamento do amor.
Todos, de algum modo, já sentimos na pele a aridez dos que nos usaram em algum momento da vida, dos que, movidos por interesses mesquinhos, substituíram os elogios e afagos espalhafatosos do tempo em que enxergavam em nós alguma utilidade pela indiferença ou pela a crítica injuriosa e covarde. Mas, a meu ver, esse não é o ponto.
Padre Fábio pede a Deus a bênção de envelhecer ao lado de pessoas que o amem quando ele se tornar “inútil”, o que é compreensível na dimensão humana. O essencial, contudo, é que possamos envelhecer e morrer sem o vazio de um coração pragmático que, por ter se mantido atento às utilidades, atravessou a vida sem conhecer o amor.

O silêncio essencial
Abro ao acaso o livrinho A Arte de Escrever, uma coletânea de artigos de Schopenhauer reunidos originalmente na obra “Parerga und Paralipomena”, de 1851, e eis que vem a inspiração que faltava para escrever a coluna de hoje.
Schopenhauer é ácido, pessimista, mas quase sempre realista e preciso, cutucando-nos para ver além de nossas referências e dos conceitos arrumadinhos. É um filósofo ocidental que, em algumas abordagens, parece captar a sabedoria de tradições orientais, como o budismo, embora as contradiga em demonstrações de autocentramento egóico e rispidez intolerante.
No livro citado, ele vai direto a um ponto crítico: a dificuldade de se conservar a clareza do pensamento quando se faz necessário (ou assim imaginamos) expressá-lo.
“A vida autêntica de um pensamento dura até que ele chegue ao ponto em que faz fronteira com as palavras: ali se petrifica, e a partir de então está morto, embora indestrutível, da mesma maneira que os animais e plantas petrificados da pré-história”, diz o filósofo. “Assim, logo que nosso pensamento encontrou palavras, ele deixa de ser algo íntimo, algo sério no nível mais profundo. Quando começa a existir para os outros, pára de viver em nós, da mesma maneira que o filho se separa da mãe quando passa a ter sua existência própria”.
Shopenhauer, então, evoca Goethe. “Como diz o poeta: “Não me venham confundir com contradições! / Logo que falamos, começamos a errar”.
Tento imaginar o que diria o filósofo se, em vez da sóbria agitação do século 19, no contexto de um mundo perplexo com a locomotiva a vapor e sua “incrível” velocidade de 20 km/h e onde a tagarelice exigia o recinto de cafés e saraus, ele estivesse aqui e agora, diante de celulares operantes, telas onipresentes, imagens nervosas e barulhentas, bocas incontidas e dedos ininterruptamente digitantes, nosso dia a dia de palavras, palavras, palavras...
Talvez entrasse em pânico ou caísse em depressão frente a pessoas que perderam a capacidade de se comunicar, em que pese a avalanche de palavras e imagens, a tagarelice e o delírio que produzem.
O pensamento está morto. O sentimento também. Enredados num cipoal de palavras, pronunciadas ao vento ou gritadas mentalmente, perdemos a cada dia a capacidade de percebermos a nós próprios e ao outro, condenando-nos à rotina de reação a estímulos de luz e som que nos entretém e nos apavoram.
Penso que, nunca na história do mundo, o homem precisou tanto calar e olhar para dentro quanto nos dias atuais. Nunca fomos tão carentes de silêncio externo que nos ajude a alcançar o silêncio interior, condição essencial à visão clara e ao discernimento, à libertação de condicionamentos e à criatividade interna, isto é, o novo muito além da mera capacidade de projetar engenhocas que nos distraem e excitam.
O silêncio é essencial. Com menos palavras, certamente, erraríamos menos e sentiríamos mais o doce sabor da vida.
02/12/2014
Abro ao acaso o livrinho A Arte de Escrever, uma coletânea de artigos de Schopenhauer reunidos originalmente na obra “Parerga und Paralipomena”, de 1851, e eis que vem a inspiração que faltava para escrever a coluna de hoje.
Schopenhauer é ácido, pessimista, mas quase sempre realista e preciso, cutucando-nos para ver além de nossas referências e dos conceitos arrumadinhos. É um filósofo ocidental que, em algumas abordagens, parece captar a sabedoria de tradições orientais, como o budismo, embora as contradiga em demonstrações de autocentramento egóico e rispidez intolerante.
No livro citado, ele vai direto a um ponto crítico: a dificuldade de se conservar a clareza do pensamento quando se faz necessário (ou assim imaginamos) expressá-lo.
“A vida autêntica de um pensamento dura até que ele chegue ao ponto em que faz fronteira com as palavras: ali se petrifica, e a partir de então está morto, embora indestrutível, da mesma maneira que os animais e plantas petrificados da pré-história”, diz o filósofo. “Assim, logo que nosso pensamento encontrou palavras, ele deixa de ser algo íntimo, algo sério no nível mais profundo. Quando começa a existir para os outros, pára de viver em nós, da mesma maneira que o filho se separa da mãe quando passa a ter sua existência própria”.
Shopenhauer, então, evoca Goethe. “Como diz o poeta: “Não me venham confundir com contradições! / Logo que falamos, começamos a errar”.
Tento imaginar o que diria o filósofo se, em vez da sóbria agitação do século 19, no contexto de um mundo perplexo com a locomotiva a vapor e sua “incrível” velocidade de 20 km/h e onde a tagarelice exigia o recinto de cafés e saraus, ele estivesse aqui e agora, diante de celulares operantes, telas onipresentes, imagens nervosas e barulhentas, bocas incontidas e dedos ininterruptamente digitantes, nosso dia a dia de palavras, palavras, palavras...
Talvez entrasse em pânico ou caísse em depressão frente a pessoas que perderam a capacidade de se comunicar, em que pese a avalanche de palavras e imagens, a tagarelice e o delírio que produzem.
O pensamento está morto. O sentimento também. Enredados num cipoal de palavras, pronunciadas ao vento ou gritadas mentalmente, perdemos a cada dia a capacidade de percebermos a nós próprios e ao outro, condenando-nos à rotina de reação a estímulos de luz e som que nos entretém e nos apavoram.
Penso que, nunca na história do mundo, o homem precisou tanto calar e olhar para dentro quanto nos dias atuais. Nunca fomos tão carentes de silêncio externo que nos ajude a alcançar o silêncio interior, condição essencial à visão clara e ao discernimento, à libertação de condicionamentos e à criatividade interna, isto é, o novo muito além da mera capacidade de projetar engenhocas que nos distraem e excitam.
O silêncio é essencial. Com menos palavras, certamente, erraríamos menos e sentiríamos mais o doce sabor da vida.

Pra chamar de meu
Enquanto a TV exibia, na noite do último domingo, as cenas de conto de fada que cercaram o primeiro caso no Brasil de bebês (trata-se de duas gêmeas) gerados em barriga de aluguel para um casal gay, o meu dj mental insistia em colocar como fundo musical a cantora Marina repetindo o verso marcante da canção Mesmo que seja eu, de Erasmo Carlos: “Você precisa de um homem pra chamar de seu”.
Enquanto os papais (não esqueça: já é possível incluir no registro civil de uma criança os nomes de dois pais ou duas mães) se desdobravam em gestos de carinho diante das câmeras, instalando as filhinhas com cuidado maternal em berços de princesa, o meu compositor virtual, mesmo sem ser convidado, logo adaptou a letra de Erasmo à circunstância: “Você precisa de um filho pra chamar de seu”.
Segundo o repórter que conduziu a matéria, apesar da aparência real, a família não está completa. Falta o príncipe, Vítor, que já tem berço de grife, apesar de ainda estar sendo gerado no útero de uma tailandesa agenciada por uma empresa israelense que só Deus sabe o quanto já faturou vendendo, para casais héteros ou homossexuais de todo o mundo, a possibilidade de realizaem o sonho de ter o filho que a natureza lhes negou.
Deixo de lado outros detalhes: a discussão ética sobre a barriga de aluguel e o comércio da vida, a pratica da eugenia por inescrupulosos a fim de gerarem apenas “príncipes e princesas” segundo valores racistas, a desvalorização da própria vida ao transitar da condição de dádiva para a de bem de consumo manipulado e comercializado a peso de ouro...
Meu foco é o pronome do verso adaptado, para mim o centro da questão das gerações milionárias de bebês para casais endinheirados, enquanto nas ruas e nos abrigos crianças entregues pela natureza sofrem à espera de pais: “Um filho pra chamar de meu”.
Talvez um dia (que isto não aconteça tarde demais!) todos entenderemos o quanto os problemas que nos cercam, do vazio existencial à violência nas ruas, tem a ver com o nosso apego, e até idolatria, aos pronomes possessivos através dos quais nosso ego camufla seus medos e infelicidade com exibições de posse e controle.
Por que investimos 200, 300, 400 mil reais para que um espermatozóide ou um óvulo saído de nossas gônadas gere um bebê num útero indiferente e recusamos o presente pronto e gratuito da criança órfã de pais vivos ou mortos, relegando-a à vala do abandono?
Certamente porque, em nossa visão estreita e separatista dos seres, o corpo que é gerado a partir de nossa semente é o único que nos permite chamar de “meu”.
A noção de laços de sangue, primitiva e preconceituosa, continua a nos impedir a visão da teia universal, a unidade na qual todas as formas se manifestam e onde os laços de amor – a força atrativa do universo – são a base e o motor do movimento misterioso, fantástico e gratuito que chamamos vida.
25/11/2014
Enquanto a TV exibia, na noite do último domingo, as cenas de conto de fada que cercaram o primeiro caso no Brasil de bebês (trata-se de duas gêmeas) gerados em barriga de aluguel para um casal gay, o meu dj mental insistia em colocar como fundo musical a cantora Marina repetindo o verso marcante da canção Mesmo que seja eu, de Erasmo Carlos: “Você precisa de um homem pra chamar de seu”.
Enquanto os papais (não esqueça: já é possível incluir no registro civil de uma criança os nomes de dois pais ou duas mães) se desdobravam em gestos de carinho diante das câmeras, instalando as filhinhas com cuidado maternal em berços de princesa, o meu compositor virtual, mesmo sem ser convidado, logo adaptou a letra de Erasmo à circunstância: “Você precisa de um filho pra chamar de seu”.
Segundo o repórter que conduziu a matéria, apesar da aparência real, a família não está completa. Falta o príncipe, Vítor, que já tem berço de grife, apesar de ainda estar sendo gerado no útero de uma tailandesa agenciada por uma empresa israelense que só Deus sabe o quanto já faturou vendendo, para casais héteros ou homossexuais de todo o mundo, a possibilidade de realizaem o sonho de ter o filho que a natureza lhes negou.
Deixo de lado outros detalhes: a discussão ética sobre a barriga de aluguel e o comércio da vida, a pratica da eugenia por inescrupulosos a fim de gerarem apenas “príncipes e princesas” segundo valores racistas, a desvalorização da própria vida ao transitar da condição de dádiva para a de bem de consumo manipulado e comercializado a peso de ouro...
Meu foco é o pronome do verso adaptado, para mim o centro da questão das gerações milionárias de bebês para casais endinheirados, enquanto nas ruas e nos abrigos crianças entregues pela natureza sofrem à espera de pais: “Um filho pra chamar de meu”.
Talvez um dia (que isto não aconteça tarde demais!) todos entenderemos o quanto os problemas que nos cercam, do vazio existencial à violência nas ruas, tem a ver com o nosso apego, e até idolatria, aos pronomes possessivos através dos quais nosso ego camufla seus medos e infelicidade com exibições de posse e controle.
Por que investimos 200, 300, 400 mil reais para que um espermatozóide ou um óvulo saído de nossas gônadas gere um bebê num útero indiferente e recusamos o presente pronto e gratuito da criança órfã de pais vivos ou mortos, relegando-a à vala do abandono?
Certamente porque, em nossa visão estreita e separatista dos seres, o corpo que é gerado a partir de nossa semente é o único que nos permite chamar de “meu”.
A noção de laços de sangue, primitiva e preconceituosa, continua a nos impedir a visão da teia universal, a unidade na qual todas as formas se manifestam e onde os laços de amor – a força atrativa do universo – são a base e o motor do movimento misterioso, fantástico e gratuito que chamamos vida.

Hora de gratidão
Há quase quatro anos escrevi aqui um texto intitulado “Sou grato, sou feliz”. Transcrevo-o parcialmente a seguir devido a sua atualidade e sua sintonia com este meu momento de abundância de emoção e escassez de palavras:
“Na timeline do Twitter encontrei esta pérola sobre a dissintonia entre palavra, sentimento e intenção: 'Foi mal não é desculpa. Valeu não é obrigado. E eu também não é eu te amo'.
A luz amarela logo acendeu. Tenho abusado das gírias nascidas da comunicação ciclotímica pela Internet, sem notar que, assim, amplio o fosso entre o sentir e o falar, esvaziando ainda mais minha relação com o outro e comigo mesmo.
'Valeu' é a minha preferida. Aparentemente, a palavrinha cunhada pelas galeras soa mais forte que o velho 'obrigado'. É um verbo, traduz ação. É um signo carregado de vibração. Mas falta-lhe a significação serena da gratidão infundida no adjetivo tradicional com o qual expressamos agradecimento. Esquecer a gratidão é empobrecer a vida, a nossa vida.
(...) Em nosso tempo de egos inflados é natural que a euforia pela imposição de vontades e a realização de desejos pessoais sufoquem a percepção de que nada nem ninguém existe por si mesmo. A interdependência abrange todos os seres, todos dependemos de uma cadeia de agentes e processos na teia mutante da vida. Não há vencedores nem heróis, nem santos e nem sábios sozinhos. Não há obra que não seja coletiva. (...)
Também essa falha de visão não existe por si. Suas raízes se apóiam na ignorância sobre nossa essência atemporal e ilimitada – a dimensão espiritual, onde há plenitude -, e na míngua que permeia a experiência existencial na dimensão do ego.
A gratidão é um sentimento cuja frequência e intensidade são proporcionais à percepção de nossa plenitude. A ingratidão é associada a um estado de carência sustentado pelo mais puro egoísmo.
(...) É exemplar o caso dos dez leprosos que, tendo implorado a Jesus por saúde, receberam dele a orientação para se apresentarem aos sacerdotes. A caminho do templo, todos foram curados, mas apenas um voltou ao mestre para agradecer. A este Jesus teria dito “a tua fé te salvou”, uma frase emblemática dos benefícios da gratidão.
O místico Meister Eckhart costumava dizer que se a única oração que fizéssemos ao longo da existência se resumisse à palavra 'obrigado', isso seria suficiente para nos redimir. Ser grato é ser feliz.
A gratidão não nos aprisiona, antes liberta-nos da dependência emocional a pessoas e coisas, tornando-nos aptos a enxergar, na perspectiva da unidade, as bênçãos inerentes a interpendência da vida. Ela promove a energia do amor e instala em nós a tão sonhada sensação de suficiência.
Valeu? Eu prefiro dizer obrigado a todos os que, na infinita cadeia da vida, contribuíram com trabalho e ensinamentos para que este texto chegasse até você.”
* * *
Obrigado, mestre Cassiano Arruda Câmara. Vida longa ao NOVO JORNAL e sua equipe brilhante.
[ Texto publicado na edição do Novo Jornal de 18/11/14, dois dias após o anúncio da mudança no controle e gestão do NJ ]
18/11/2014
Há quase quatro anos escrevi aqui um texto intitulado “Sou grato, sou feliz”. Transcrevo-o parcialmente a seguir devido a sua atualidade e sua sintonia com este meu momento de abundância de emoção e escassez de palavras:
“Na timeline do Twitter encontrei esta pérola sobre a dissintonia entre palavra, sentimento e intenção: 'Foi mal não é desculpa. Valeu não é obrigado. E eu também não é eu te amo'.
A luz amarela logo acendeu. Tenho abusado das gírias nascidas da comunicação ciclotímica pela Internet, sem notar que, assim, amplio o fosso entre o sentir e o falar, esvaziando ainda mais minha relação com o outro e comigo mesmo.
'Valeu' é a minha preferida. Aparentemente, a palavrinha cunhada pelas galeras soa mais forte que o velho 'obrigado'. É um verbo, traduz ação. É um signo carregado de vibração. Mas falta-lhe a significação serena da gratidão infundida no adjetivo tradicional com o qual expressamos agradecimento. Esquecer a gratidão é empobrecer a vida, a nossa vida.
(...) Em nosso tempo de egos inflados é natural que a euforia pela imposição de vontades e a realização de desejos pessoais sufoquem a percepção de que nada nem ninguém existe por si mesmo. A interdependência abrange todos os seres, todos dependemos de uma cadeia de agentes e processos na teia mutante da vida. Não há vencedores nem heróis, nem santos e nem sábios sozinhos. Não há obra que não seja coletiva. (...)
Também essa falha de visão não existe por si. Suas raízes se apóiam na ignorância sobre nossa essência atemporal e ilimitada – a dimensão espiritual, onde há plenitude -, e na míngua que permeia a experiência existencial na dimensão do ego.
A gratidão é um sentimento cuja frequência e intensidade são proporcionais à percepção de nossa plenitude. A ingratidão é associada a um estado de carência sustentado pelo mais puro egoísmo.
(...) É exemplar o caso dos dez leprosos que, tendo implorado a Jesus por saúde, receberam dele a orientação para se apresentarem aos sacerdotes. A caminho do templo, todos foram curados, mas apenas um voltou ao mestre para agradecer. A este Jesus teria dito “a tua fé te salvou”, uma frase emblemática dos benefícios da gratidão.
O místico Meister Eckhart costumava dizer que se a única oração que fizéssemos ao longo da existência se resumisse à palavra 'obrigado', isso seria suficiente para nos redimir. Ser grato é ser feliz.
A gratidão não nos aprisiona, antes liberta-nos da dependência emocional a pessoas e coisas, tornando-nos aptos a enxergar, na perspectiva da unidade, as bênçãos inerentes a interpendência da vida. Ela promove a energia do amor e instala em nós a tão sonhada sensação de suficiência.
Valeu? Eu prefiro dizer obrigado a todos os que, na infinita cadeia da vida, contribuíram com trabalho e ensinamentos para que este texto chegasse até você.”
* * *
Obrigado, mestre Cassiano Arruda Câmara. Vida longa ao NOVO JORNAL e sua equipe brilhante.
[ Texto publicado na edição do Novo Jornal de 18/11/14, dois dias após o anúncio da mudança no controle e gestão do NJ ]

Polícia. E quem precisa?
Dados da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública deixariam o país estarrecido, não fosse a vitoriosa cultura do medo que há décadas vem sendo promovida pelas autoridades de segurança, com a conivência interesseira de certos comunicadores e empresas de mídia, como forma de sustentar, de um lado, uma máquina policial falida e o sistema de corrupção no serviço público do qual ela é uma das jóias da coroa e, de outro, os lucros advindos de uma guerra por audiência imoral e hipócrita.
Segundo o Fórum, entre 2009 e 2013 a polícia brasileira matou 11.197 pessoas, mais do que a polícia dos Estados Unidos nos últimos 30 anos (11.090 mortos)!
À primeira vista o número já é um horror e mostra que algo essencial está falhando em nossas corporações policiais. Mas isso se torna mais grave quando se leva em conta que a comparação foi feita com um país que não é exemplo de sociedade pacificada e com uma polícia que não se destaca pela abordagem civilizada. Que o digam os negros americanos e a própria estatística estadunidense. Mais de um 11 000 assassinatos cometidos por policiais em 30 anos é um escândalo, se comparados à eficiente polícia do Reino Unido, que até há pouco -- antes que a Grã- Bretanha virasse alvo do terrorismo – não raro disparava apenas uma bala por ano, sem registro de vítima fatal.
Que a polícia brasileira precisa ser reiventada, é uma conclusão quase consensual, ainda que não sejam as mesmas as motivações dos brasileiros que apontam para esse rumo. Mas qualquer reforma do aparelho policial se perderá no nascedouro, se não focar as raízes dessa crise institucional: a ideologia de segurança, que até aqui serve para assegurar privilégios e reprimir os mais pobres; o sistema corrupto gerido fora da corporação policial, no ambiente político, que sustenta e protege o mar de lama dos policais truculentos ou corruptos; e a formação profissional – a seleção, a instrução e o cuidado humano com o policial.
Por escassez de espaço, concentro-me aqui em apenas um dos itens: o da formação profissional, o mais importante, pois interage diretamente com a população que paga impostos e deveria ser beneficiada com serviços eficientes.
Desconfio que, no Brasil, a polícia se tornou o desaguadouro de jovens que, incapacitados para outras funções numa sociedade competitiva, encontram na corporação policial um porto de estabilidade e status. Não são, portanto, vocacionados para a missão. Entre esses, muitos são portadores de transtornos de personalidade que não são detectados em testes psicológicos superficiais e que se agravam no dia a dia tenso de uma profissão crítica. Some-se isso a falta de instrução sobre leis, psicologia, direitos humanos e, sobretudo, nenhuma aplicação de técnicas de centramento da mente e controle das emoções no treinamento do profissional e se terá, no fim da linha, o desequilibrado perfeito para enfrentar a violência com o único recurso possível a quem está dominado pelo medo: a violência.
Bingo! O sistema venceu.
11/11/2014
Dados da ONG Fórum Brasileiro de Segurança Pública deixariam o país estarrecido, não fosse a vitoriosa cultura do medo que há décadas vem sendo promovida pelas autoridades de segurança, com a conivência interesseira de certos comunicadores e empresas de mídia, como forma de sustentar, de um lado, uma máquina policial falida e o sistema de corrupção no serviço público do qual ela é uma das jóias da coroa e, de outro, os lucros advindos de uma guerra por audiência imoral e hipócrita.
Segundo o Fórum, entre 2009 e 2013 a polícia brasileira matou 11.197 pessoas, mais do que a polícia dos Estados Unidos nos últimos 30 anos (11.090 mortos)!
À primeira vista o número já é um horror e mostra que algo essencial está falhando em nossas corporações policiais. Mas isso se torna mais grave quando se leva em conta que a comparação foi feita com um país que não é exemplo de sociedade pacificada e com uma polícia que não se destaca pela abordagem civilizada. Que o digam os negros americanos e a própria estatística estadunidense. Mais de um 11 000 assassinatos cometidos por policiais em 30 anos é um escândalo, se comparados à eficiente polícia do Reino Unido, que até há pouco -- antes que a Grã- Bretanha virasse alvo do terrorismo – não raro disparava apenas uma bala por ano, sem registro de vítima fatal.
Que a polícia brasileira precisa ser reiventada, é uma conclusão quase consensual, ainda que não sejam as mesmas as motivações dos brasileiros que apontam para esse rumo. Mas qualquer reforma do aparelho policial se perderá no nascedouro, se não focar as raízes dessa crise institucional: a ideologia de segurança, que até aqui serve para assegurar privilégios e reprimir os mais pobres; o sistema corrupto gerido fora da corporação policial, no ambiente político, que sustenta e protege o mar de lama dos policais truculentos ou corruptos; e a formação profissional – a seleção, a instrução e o cuidado humano com o policial.
Por escassez de espaço, concentro-me aqui em apenas um dos itens: o da formação profissional, o mais importante, pois interage diretamente com a população que paga impostos e deveria ser beneficiada com serviços eficientes.
Desconfio que, no Brasil, a polícia se tornou o desaguadouro de jovens que, incapacitados para outras funções numa sociedade competitiva, encontram na corporação policial um porto de estabilidade e status. Não são, portanto, vocacionados para a missão. Entre esses, muitos são portadores de transtornos de personalidade que não são detectados em testes psicológicos superficiais e que se agravam no dia a dia tenso de uma profissão crítica. Some-se isso a falta de instrução sobre leis, psicologia, direitos humanos e, sobretudo, nenhuma aplicação de técnicas de centramento da mente e controle das emoções no treinamento do profissional e se terá, no fim da linha, o desequilibrado perfeito para enfrentar a violência com o único recurso possível a quem está dominado pelo medo: a violência.
Bingo! O sistema venceu.

Cristãos sem Evangelho
Leio sobre a fala do papa Francisco aos participantes do 1° Encontro Mundial de Movimentos Populares, realizado na semana passada em Roma, e me surpreendo. Destaco um trecho do relato da agência de notícias Ecclesia:
“Digamos juntos, de coração: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá”, declarou Francisco, perante trabalhadores precários e da economia informal, migrantes, indígenas, sem-terra e pessoas que perderam a sua habitação.”
O papa foi veemente, duro mesmo: “O desemprego juvenil, a informalidade e a falta de direitos laborais não são inevitáveis, são o resultado de opção social prévia, de um sistema econômico que coloca os lucros acima do homem”. E, na sequência, criticou os eufemismos usados para falar do “mundo das injustiças” e o “império do dinheiro” que exige a guerra e o comércio de armamentos para a sobrevivência de sistemas econômicos.
Logo imagino o que pensam dessas palavras os católicos “funcionais” e os cristãos de outras denominações, estejam eles interessados em salvar suas almas do inferno, conquistar milagres ou simplesmente gozarem o êxtase intelectual da hermenêutica ou o da excitação vazia dos sentidos.
E, então, a ficha cai. E por que eu? Por que me surpreendo com as palavras do papa, atribuindo a elas um sabor inédito? Afinal, o tema da Justiça social, sob a inspiração cristã, me é caro desde a juventude e com ele tenho certa intimidade, inclusive como ativista em ações junto aos mais pobres e excluídos.
Talvez tenhamos alcançado um nível tão alto de adulteração e manipulação da mensagem cristã, a serviço de nosso egoísmo, que ver um papa – ou qualquer religioso – falar o óbvio do Evangelho nos parece uma explosão em nossos altares de santos mortos e cúmplices de nossos desvios.
A verdade central do Cristianismo é autoevidente. Dispensa hermeneutas, pois as palavras de Jesus se materializaram em sua prática e na dos apóstolos. “Cada vez que fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi mim que o fizestes”, conforme a narrativa do evangelista Mateus (25: 31 a 46) é, certamente, a frase mais emblemática daquilo que podemos chamar de doutrina social do Cristianismo.
Um papa que se autodenominou Francisco para inspirar-se na radicalidade da vivência cristã e salvar sua Igreja da decadência não poderia ter outro olhar sobre o “mundo das injustiças” de cristãos sem Evangelho. “Para alguns parece que o papa é comunista”, disse ele no discurso citado, para em seguida recordar que “o amor pelos pobres está no centro do Evangelho”.
Ora, o comunismo marxista e todas as utopias sociais de viés materialista são bastante moderadas diante da mensagem de Amor atuante do Evangelho. E isso, talvez, explique porque, para os que se beneficiam do “mundo das injustiças”, corromper a mensagem cristã com seus eufemismos é a prioridade de todas as falas, meios e estruturas numa sociedade onde Jesus é, no máximo, uma pop star.
04/11/2014
Leio sobre a fala do papa Francisco aos participantes do 1° Encontro Mundial de Movimentos Populares, realizado na semana passada em Roma, e me surpreendo. Destaco um trecho do relato da agência de notícias Ecclesia:
“Digamos juntos, de coração: nenhuma família sem casa, nenhum camponês sem terra, nenhum trabalhador sem direitos, nenhuma pessoa sem a dignidade que o trabalho dá”, declarou Francisco, perante trabalhadores precários e da economia informal, migrantes, indígenas, sem-terra e pessoas que perderam a sua habitação.”
O papa foi veemente, duro mesmo: “O desemprego juvenil, a informalidade e a falta de direitos laborais não são inevitáveis, são o resultado de opção social prévia, de um sistema econômico que coloca os lucros acima do homem”. E, na sequência, criticou os eufemismos usados para falar do “mundo das injustiças” e o “império do dinheiro” que exige a guerra e o comércio de armamentos para a sobrevivência de sistemas econômicos.
Logo imagino o que pensam dessas palavras os católicos “funcionais” e os cristãos de outras denominações, estejam eles interessados em salvar suas almas do inferno, conquistar milagres ou simplesmente gozarem o êxtase intelectual da hermenêutica ou o da excitação vazia dos sentidos.
E, então, a ficha cai. E por que eu? Por que me surpreendo com as palavras do papa, atribuindo a elas um sabor inédito? Afinal, o tema da Justiça social, sob a inspiração cristã, me é caro desde a juventude e com ele tenho certa intimidade, inclusive como ativista em ações junto aos mais pobres e excluídos.
Talvez tenhamos alcançado um nível tão alto de adulteração e manipulação da mensagem cristã, a serviço de nosso egoísmo, que ver um papa – ou qualquer religioso – falar o óbvio do Evangelho nos parece uma explosão em nossos altares de santos mortos e cúmplices de nossos desvios.
A verdade central do Cristianismo é autoevidente. Dispensa hermeneutas, pois as palavras de Jesus se materializaram em sua prática e na dos apóstolos. “Cada vez que fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foi mim que o fizestes”, conforme a narrativa do evangelista Mateus (25: 31 a 46) é, certamente, a frase mais emblemática daquilo que podemos chamar de doutrina social do Cristianismo.
Um papa que se autodenominou Francisco para inspirar-se na radicalidade da vivência cristã e salvar sua Igreja da decadência não poderia ter outro olhar sobre o “mundo das injustiças” de cristãos sem Evangelho. “Para alguns parece que o papa é comunista”, disse ele no discurso citado, para em seguida recordar que “o amor pelos pobres está no centro do Evangelho”.
Ora, o comunismo marxista e todas as utopias sociais de viés materialista são bastante moderadas diante da mensagem de Amor atuante do Evangelho. E isso, talvez, explique porque, para os que se beneficiam do “mundo das injustiças”, corromper a mensagem cristã com seus eufemismos é a prioridade de todas as falas, meios e estruturas numa sociedade onde Jesus é, no máximo, uma pop star.

Agora, as reformas
A campanha presidencial que o Brasil não vai esquecer, por sua dramaticidade e pelos golpes baixos que marcaram sua reta final, acabou de um jeito esperançoso para o país: coube à presidenta reeleita Dilma Roussef recolocar à mesa o tema da reforma política, urgente e indispensável.
Sem ela, daqui a quatro anos estaremos de novo rediscutindo o país do mesmo jeito hipócrita e superficial, em prejuízo da verdade e das propostas proativas.
A rigor não precisamos de uma reforma e sim de uma revolução no sistema político que reduza os vícios de nossa democracia representativa, ajustando-a ao espírito do tempo e da consciência política, e que nos aproxime do ideal da democracia participativa, com o envolvimento das organizações sociais nas decisões do Congresso e do Executivo e no gerenciamento do patrimônio público.
Se falou com sinceridade e determinação, não será fácil à presidenta reeleita levar adiante o seu intento. Os obstáculos à reforma política se espalham por todo o espectro político e, principalmente, pelo Olimpo econômico, para o qual uma mudança radical nas regras vigentes – especialmente quanto ao financiamento de campanhas – significa perda de poder sobre o Estado e de lucros bilionários.
Não é à toa que todas as iniciativas em favor da reforma política, nas últimas décadas, acabaram sepultadas em gavetas da Câmara dos Deputados e do Senado. A própria Dilma, ao relançar a proposta de um plebiscito sobre a reforma no ano passado – na época, talvez, como mero expediente para acalmar os protestos nas ruas - enfrentou reação duríssima dos partidos de oposição, os mesmos que, um ano depois, se apresentariam com um discurso moralista sobre a corrupção na tentativa de convencer o eleitor de que é possível erradicar a erva daninha do corrupto no serviço público sem mexer no pântano do financiamento de campanhas e nas facilidades para corromper o Estado que tem hoje as grandes empresas e os cidadãos endinheirados.
Uma reforma política radical (necessária!) certamente alcançaria a proeza de desagradar a gregos e troianos entre os que se beneficiam das regras atuais.
Além de alcançar as malas recheadas que abastecem quase todos os partidos e candidatos, reembolsadas depois com juros sob a forma de obras superfaturadas e desvios escandalosos, uma reforma assim focaria também a moralização da propaganda eleitoral, impedindo o uso criminoso das pesquisas (no caso dos institutos de pesquisas regionais que alugam suas marcas a candidatos), da imprensa (cuja liberdade não pode ser maior que o respeito à verdade e ao interesse público), das redes sociais (com a responsabilização a posteriori de quem pratica calúnia, injúria e difamação para enganar o eleitor) e, sobretudo, das concessões de serviço público (caso da televisão) que, por serem públicas, não deveriam ser mobilizadas em favor desse ou daquele candidato.
Uma reforma pra valer seria, talvez, incendiária e só passaria no Congresso, que tem o atributo constitucional para a sua realização, a partir de um amplo apoio popular manifestado nas ruas.
28/10/2014
A campanha presidencial que o Brasil não vai esquecer, por sua dramaticidade e pelos golpes baixos que marcaram sua reta final, acabou de um jeito esperançoso para o país: coube à presidenta reeleita Dilma Roussef recolocar à mesa o tema da reforma política, urgente e indispensável.
Sem ela, daqui a quatro anos estaremos de novo rediscutindo o país do mesmo jeito hipócrita e superficial, em prejuízo da verdade e das propostas proativas.
A rigor não precisamos de uma reforma e sim de uma revolução no sistema político que reduza os vícios de nossa democracia representativa, ajustando-a ao espírito do tempo e da consciência política, e que nos aproxime do ideal da democracia participativa, com o envolvimento das organizações sociais nas decisões do Congresso e do Executivo e no gerenciamento do patrimônio público.
Se falou com sinceridade e determinação, não será fácil à presidenta reeleita levar adiante o seu intento. Os obstáculos à reforma política se espalham por todo o espectro político e, principalmente, pelo Olimpo econômico, para o qual uma mudança radical nas regras vigentes – especialmente quanto ao financiamento de campanhas – significa perda de poder sobre o Estado e de lucros bilionários.
Não é à toa que todas as iniciativas em favor da reforma política, nas últimas décadas, acabaram sepultadas em gavetas da Câmara dos Deputados e do Senado. A própria Dilma, ao relançar a proposta de um plebiscito sobre a reforma no ano passado – na época, talvez, como mero expediente para acalmar os protestos nas ruas - enfrentou reação duríssima dos partidos de oposição, os mesmos que, um ano depois, se apresentariam com um discurso moralista sobre a corrupção na tentativa de convencer o eleitor de que é possível erradicar a erva daninha do corrupto no serviço público sem mexer no pântano do financiamento de campanhas e nas facilidades para corromper o Estado que tem hoje as grandes empresas e os cidadãos endinheirados.
Uma reforma política radical (necessária!) certamente alcançaria a proeza de desagradar a gregos e troianos entre os que se beneficiam das regras atuais.
Além de alcançar as malas recheadas que abastecem quase todos os partidos e candidatos, reembolsadas depois com juros sob a forma de obras superfaturadas e desvios escandalosos, uma reforma assim focaria também a moralização da propaganda eleitoral, impedindo o uso criminoso das pesquisas (no caso dos institutos de pesquisas regionais que alugam suas marcas a candidatos), da imprensa (cuja liberdade não pode ser maior que o respeito à verdade e ao interesse público), das redes sociais (com a responsabilização a posteriori de quem pratica calúnia, injúria e difamação para enganar o eleitor) e, sobretudo, das concessões de serviço público (caso da televisão) que, por serem públicas, não deveriam ser mobilizadas em favor desse ou daquele candidato.
Uma reforma pra valer seria, talvez, incendiária e só passaria no Congresso, que tem o atributo constitucional para a sua realização, a partir de um amplo apoio popular manifestado nas ruas.

A corrupção na campanha - 2
Como vimos na semana passada, o discurso eleitoral sobre a corrupção não é confiável por ter a única intenção de conquistar o voto do eleitor, mediante a manipulação de suas emoções. Manda-se para a lata do lixo o histórico e as reflexões sobre as raízes desse mal universal, que em determinadas regiões do mundo, como a África e a América Latina, tem características de doença endêmica a qual todos parecemos adaptados.
Nesse nível, superficial e desonesto, a corrupção aparece como uma questão pontual, um charco instalado no terreno “paradisíaco” da sociedade pelos agentes do mal – no caso, o opositor e seus aliados. Desaparecem aí os agentes econômicos corruptores – empresas e seus lobistas – e o sistema pervertido no qual se dá o jogo político.
A corrupção passiva do agente público é a única coisa que interessa nesse discurso que visa desconstruir o oponente e hipnotizar o eleitor. Esquece-se que essa ponta de iceberg é só a parte visível dos desvios sistêmicos, sem falar na pedra angular dos valores éticos cultivados nos níveis individual e coletivo (a cultura de um povo), que geram e dão sustentação a todas as virtudes e defeitos de uma sociedade.
O discurso eleitoral oculta, por exemplo, a chamada corrupção preditiva, aquela que tira a dignidade do candidato antes mesmo de sua eleição, em razão de associações espúrias com lobistas e grandes grupos econômicos no lamaçal conhecido como financiamento de campanha. Na TV e no palanque, nenhuma palavra sobre o tema. Seria um tiro no pé.
Grandes empresas – das gulosas empreiteiras de obras à indústria da cerveja – e, sobretudo, os bancos costumam jorrar dinheiro para candidatos com alguma chance de vitória independentemente de sua filiação partidária, regulando a torneira com base nos prognósticos das pesquisas de intenção de voto. Querem e precisam estar bem com quem vier a ser eleito por razões quase sempre inconfessáveis. Querem e precisam algemar aos seus interesses os futuros executivos e legisladores do país.
Afinal, por que um banco ou uma construtora daria suporte financeiro a quase todo o espectro partidário? Pelo desejo de fazer caridade para com a democracia?
Temos aí um problema estrutural que só pode ser equacionado através de uma reforma política que permita ao Brasil ter partidos de verdade, redefina as normas de alianças e coligações (que hoje eternizam na máquina pública políticos sem voto e, não raro, sem caráter), estimule o eleitor a interagir com o seu representante e, principalmente, acabe com pântano do atual financiamento de campanhas, nascedouro das distorções e escândalos na área administrativa.
Uma campanha para a renovação do Congresso, como ocorreu há pouco, e mesmo a disputa presidencial seriam ocasiões especiais para debater essa reforma e destravá-la no Parlamento, onde um projeto sobre assunto está acorrentado há cerca de 20 anos!
21/10/2014
Como vimos na semana passada, o discurso eleitoral sobre a corrupção não é confiável por ter a única intenção de conquistar o voto do eleitor, mediante a manipulação de suas emoções. Manda-se para a lata do lixo o histórico e as reflexões sobre as raízes desse mal universal, que em determinadas regiões do mundo, como a África e a América Latina, tem características de doença endêmica a qual todos parecemos adaptados.
Nesse nível, superficial e desonesto, a corrupção aparece como uma questão pontual, um charco instalado no terreno “paradisíaco” da sociedade pelos agentes do mal – no caso, o opositor e seus aliados. Desaparecem aí os agentes econômicos corruptores – empresas e seus lobistas – e o sistema pervertido no qual se dá o jogo político.
A corrupção passiva do agente público é a única coisa que interessa nesse discurso que visa desconstruir o oponente e hipnotizar o eleitor. Esquece-se que essa ponta de iceberg é só a parte visível dos desvios sistêmicos, sem falar na pedra angular dos valores éticos cultivados nos níveis individual e coletivo (a cultura de um povo), que geram e dão sustentação a todas as virtudes e defeitos de uma sociedade.
O discurso eleitoral oculta, por exemplo, a chamada corrupção preditiva, aquela que tira a dignidade do candidato antes mesmo de sua eleição, em razão de associações espúrias com lobistas e grandes grupos econômicos no lamaçal conhecido como financiamento de campanha. Na TV e no palanque, nenhuma palavra sobre o tema. Seria um tiro no pé.
Grandes empresas – das gulosas empreiteiras de obras à indústria da cerveja – e, sobretudo, os bancos costumam jorrar dinheiro para candidatos com alguma chance de vitória independentemente de sua filiação partidária, regulando a torneira com base nos prognósticos das pesquisas de intenção de voto. Querem e precisam estar bem com quem vier a ser eleito por razões quase sempre inconfessáveis. Querem e precisam algemar aos seus interesses os futuros executivos e legisladores do país.
Afinal, por que um banco ou uma construtora daria suporte financeiro a quase todo o espectro partidário? Pelo desejo de fazer caridade para com a democracia?
Temos aí um problema estrutural que só pode ser equacionado através de uma reforma política que permita ao Brasil ter partidos de verdade, redefina as normas de alianças e coligações (que hoje eternizam na máquina pública políticos sem voto e, não raro, sem caráter), estimule o eleitor a interagir com o seu representante e, principalmente, acabe com pântano do atual financiamento de campanhas, nascedouro das distorções e escândalos na área administrativa.
Uma campanha para a renovação do Congresso, como ocorreu há pouco, e mesmo a disputa presidencial seriam ocasiões especiais para debater essa reforma e destravá-la no Parlamento, onde um projeto sobre assunto está acorrentado há cerca de 20 anos!

A corrupção na campanha - 1
Primeiro vamos ao dicionário: corrupção é também desmoralização, devassidão, sedução. É o sentido do termo mais adequado ao foco deste meu texto mínimo, ou seja, o uso de um tema impactante, e necessário, na campanha eleitoral com o objetivo de conquistar o voto do eleitor mediante o acirramento de emoções maniqueístas que dividem o mundo entre bem e mal, entre mocinhos e bandidos.
Agora, reencontremos o conceito evocado na lei e no dia a dia da sociedade. A Wikipédia, a enciclopédia aberta da Internet, torna as coisas menos complicadas: “Corrupção é o ato ou efeito de oferecer algo para obter vantagem em negociata onde se favorece uma pessoa e se prejudica outra. É tirar vantagem do poder atribuído".
No mesmo verbete, a Wikipédia cita o pesquisador da PUC-SP e presidente do Instituto Brasileiro de Combate à Corrupção, Calil Simão, em uma frase lapidar: “A corrupção social ou estatal é caracterizada pela incapacidade moral dos cidadãos de assumir compromissos voltados ao bem comum. Vale dizer, os cidadãos mostram-se incapazes de fazer coisas que não lhes traga uma gratificação pessoal.”
A corrupção é universal. É grosseira e descarada em países onde vige a impunidade. É refinada e discreta nos países desenvolvidos.
É endêmica e epidêmica na África e na América Latina. Grave na Itália. Ampla no mercado financeiro dos Estados Unidos. Rotineira nas grandes empresas que disputam licitações nos cinco continentes, inclusive corporações dos assépticos países escandinavos, onde a corrupção está em níveis mínimos e a justiça social e a qualidade de vida no topo do ranking. Ela mostra sua cara até na China, apesar da pena de morte para os infratores.
Ah! a corrupção tem duas pontas: o corrompido, muitas vezes instalado no serviço público, e o corruptor, quase sempre um agente do mundo dos negócios ou o cidadão comum, aquele que começa subornando o guarda e o porteiro, todos, como diria Calil Simão, “incapazes de fazer coisas que não lhes traga uma gratificação pessoal”.
Vejo na TV os marketeiros políticos atuando no limite da criatividade para mostrar que o candidato oponente é corrupto ou acoberta a corrupção. Para mim, é um desperdício de neurônios e de dinheiro. Bastaria que se apresentasse a sequência de manchetes dos jornais brasileiros em todos os governos da República, a fim de refrescar a memória do eleitor distraído. Não há período sem notícias de escândalos de corrupção, inclusive na ditadura militar, quando a censura acorrentou a informação.
Tal procedimento seria honesto com o eleitor, que a propaganda eleitoral, manipulando emoções, tenta manter distraído. E certamente permitiria ao cidadão, no caso de a corrupção ser o tema mais importante para a sua decisão, escolher com base no único fator confiável que temos para discernir quem menos errou nessa área: em que períodos e em que governos mais a corrupção pôde ser descoberta e seus agentes, efetivamente, punidos pela Justiça?
14/10/2014
Primeiro vamos ao dicionário: corrupção é também desmoralização, devassidão, sedução. É o sentido do termo mais adequado ao foco deste meu texto mínimo, ou seja, o uso de um tema impactante, e necessário, na campanha eleitoral com o objetivo de conquistar o voto do eleitor mediante o acirramento de emoções maniqueístas que dividem o mundo entre bem e mal, entre mocinhos e bandidos.
Agora, reencontremos o conceito evocado na lei e no dia a dia da sociedade. A Wikipédia, a enciclopédia aberta da Internet, torna as coisas menos complicadas: “Corrupção é o ato ou efeito de oferecer algo para obter vantagem em negociata onde se favorece uma pessoa e se prejudica outra. É tirar vantagem do poder atribuído".
No mesmo verbete, a Wikipédia cita o pesquisador da PUC-SP e presidente do Instituto Brasileiro de Combate à Corrupção, Calil Simão, em uma frase lapidar: “A corrupção social ou estatal é caracterizada pela incapacidade moral dos cidadãos de assumir compromissos voltados ao bem comum. Vale dizer, os cidadãos mostram-se incapazes de fazer coisas que não lhes traga uma gratificação pessoal.”
A corrupção é universal. É grosseira e descarada em países onde vige a impunidade. É refinada e discreta nos países desenvolvidos.
É endêmica e epidêmica na África e na América Latina. Grave na Itália. Ampla no mercado financeiro dos Estados Unidos. Rotineira nas grandes empresas que disputam licitações nos cinco continentes, inclusive corporações dos assépticos países escandinavos, onde a corrupção está em níveis mínimos e a justiça social e a qualidade de vida no topo do ranking. Ela mostra sua cara até na China, apesar da pena de morte para os infratores.
Ah! a corrupção tem duas pontas: o corrompido, muitas vezes instalado no serviço público, e o corruptor, quase sempre um agente do mundo dos negócios ou o cidadão comum, aquele que começa subornando o guarda e o porteiro, todos, como diria Calil Simão, “incapazes de fazer coisas que não lhes traga uma gratificação pessoal”.
Vejo na TV os marketeiros políticos atuando no limite da criatividade para mostrar que o candidato oponente é corrupto ou acoberta a corrupção. Para mim, é um desperdício de neurônios e de dinheiro. Bastaria que se apresentasse a sequência de manchetes dos jornais brasileiros em todos os governos da República, a fim de refrescar a memória do eleitor distraído. Não há período sem notícias de escândalos de corrupção, inclusive na ditadura militar, quando a censura acorrentou a informação.
Tal procedimento seria honesto com o eleitor, que a propaganda eleitoral, manipulando emoções, tenta manter distraído. E certamente permitiria ao cidadão, no caso de a corrupção ser o tema mais importante para a sua decisão, escolher com base no único fator confiável que temos para discernir quem menos errou nessa área: em que períodos e em que governos mais a corrupção pôde ser descoberta e seus agentes, efetivamente, punidos pela Justiça?

A necessidade de Gandhi
É impossível eliminar o conflito na sociedade. Não há mundo objetivo separado da subjetividade e, assim, em algum momento a diversidade de olhares sempre nos conduzirá à divergência.
Levamos séculos para entender essa verdade simples e criar instrumentos razoáveis para administrar nossas diferenças, como é o caso da política e suas ferramentas essenciais: o debate e a negociação. Mas também aqui nossas pulsões egóicas continuam a nos tentar com a ilusão de que a força e a guerra são mais eficazes e mesmo indispensáveis quando a palavra não consegue impor nossa vontade.
Numa hora em que as feras rosnam no tabuleiro da política mundial e também na intimidade dos pequenos grupos, inclusive a família, é importante que lembremos Gandhi, essa figura fantástica que nos ensinou como integrar a santidade e a habilidade política, com resultados efetivos.
Sua história é rica de amor e transcendência, mas também de perspicácia e habilidade políticas, confirmadas nas sete campanhas gloriosas em que esteve envolvido: contra o racismo na Áfica do sul, pela Independência da Índia, contra o sistema de castas hindu, contra a exploração econômica, por um modo não-violento de lutar, contra os conflitos entre hindus e muçulmanos e contra o sexismo pela libertação das mulheres.
Chefes de estado, candidatos a cargos políticos e pessoas comuns tem muito a aprender com esse homem integral e luminoso, como se pode notar neste resumo das normas que o nortearam na administração de conflitos, segundo o sociólogo norueguês Johan Galtung, da Universidade de Oslo, em seu livro “O Caminho é a Meta – Gandhi Hoje”:
NOS CONFLITOS, AJA. Aja agora, aja para o seu grupo, com base na identidade e em convicções.
DEFINA BEM O CONFLITO. Estabeleça metas com clareza, tente entender as metas de seu oponente e enfatize as metas comuns e compatíveis.
ABORDAGEM POSITIVA. Veja o conflito como uma oportunidade para reunir-se com o oponente, para transformar a sociedade e a você mesmo.
NA LUTA. Não fira ou cause prejuízos com seus atos, suas palavras ou seus pensamentos. Prefira a violência à covardia. Faça o bem mesmo a malfeitores. Aja abertamente e oriente a luta para o ponto correto.
Não coopere com as estruturas, os status e as ações maléficas. Não coopere com quem coopera com o mal. Esteja disposto a sacrificar-se. Não fuja à punição. Esteja disposto a morrer, se necessário.
Não polarize. Faça a diferença entre o antagonismo e o antagonista, entre pessoas e seus status. Mantenha o contato. Seja flexível ao definir partes e posições. Não humilhe nem se deixe humilhar. Não provoque nem se deixe provocar.
RESOLUÇÃO DO CONFLITO. Não continue indefinidamente na luta. Não negocie o que é essencial. Disponha-se a acordos sobre o que não é essencial. Busque sempre negociar. Lembre-se de que você pode estar errado. Admita abertamente os seus erros. Seja generoso. Busque a conversão, não a coerção. Transforme o seu oponente num adepto da causa.
07/10/2014
É impossível eliminar o conflito na sociedade. Não há mundo objetivo separado da subjetividade e, assim, em algum momento a diversidade de olhares sempre nos conduzirá à divergência.
Levamos séculos para entender essa verdade simples e criar instrumentos razoáveis para administrar nossas diferenças, como é o caso da política e suas ferramentas essenciais: o debate e a negociação. Mas também aqui nossas pulsões egóicas continuam a nos tentar com a ilusão de que a força e a guerra são mais eficazes e mesmo indispensáveis quando a palavra não consegue impor nossa vontade.
Numa hora em que as feras rosnam no tabuleiro da política mundial e também na intimidade dos pequenos grupos, inclusive a família, é importante que lembremos Gandhi, essa figura fantástica que nos ensinou como integrar a santidade e a habilidade política, com resultados efetivos.
Sua história é rica de amor e transcendência, mas também de perspicácia e habilidade políticas, confirmadas nas sete campanhas gloriosas em que esteve envolvido: contra o racismo na Áfica do sul, pela Independência da Índia, contra o sistema de castas hindu, contra a exploração econômica, por um modo não-violento de lutar, contra os conflitos entre hindus e muçulmanos e contra o sexismo pela libertação das mulheres.
Chefes de estado, candidatos a cargos políticos e pessoas comuns tem muito a aprender com esse homem integral e luminoso, como se pode notar neste resumo das normas que o nortearam na administração de conflitos, segundo o sociólogo norueguês Johan Galtung, da Universidade de Oslo, em seu livro “O Caminho é a Meta – Gandhi Hoje”:
NOS CONFLITOS, AJA. Aja agora, aja para o seu grupo, com base na identidade e em convicções.
DEFINA BEM O CONFLITO. Estabeleça metas com clareza, tente entender as metas de seu oponente e enfatize as metas comuns e compatíveis.
ABORDAGEM POSITIVA. Veja o conflito como uma oportunidade para reunir-se com o oponente, para transformar a sociedade e a você mesmo.
NA LUTA. Não fira ou cause prejuízos com seus atos, suas palavras ou seus pensamentos. Prefira a violência à covardia. Faça o bem mesmo a malfeitores. Aja abertamente e oriente a luta para o ponto correto.
Não coopere com as estruturas, os status e as ações maléficas. Não coopere com quem coopera com o mal. Esteja disposto a sacrificar-se. Não fuja à punição. Esteja disposto a morrer, se necessário.
Não polarize. Faça a diferença entre o antagonismo e o antagonista, entre pessoas e seus status. Mantenha o contato. Seja flexível ao definir partes e posições. Não humilhe nem se deixe humilhar. Não provoque nem se deixe provocar.
RESOLUÇÃO DO CONFLITO. Não continue indefinidamente na luta. Não negocie o que é essencial. Disponha-se a acordos sobre o que não é essencial. Busque sempre negociar. Lembre-se de que você pode estar errado. Admita abertamente os seus erros. Seja generoso. Busque a conversão, não a coerção. Transforme o seu oponente num adepto da causa.

A política e o fígado
Há 15 dias, inspirado numa frase do filósofo Theilhard de Chardin, escrevi aqui que precisamos de olhos desenvolvidos e sagazes para enxergar, durante uma campanha eleitoral, a verdade dos candidatos, quase sempre escondida atrás de discursos vazios, mas sedutores, construídos com técnicas de propaganda e marketing. Nesse contexto, nocivo à cidadania e à democracia, os políticos são apresentados e percebidos pela maioria dos eleitores como produtos associados a desejos pessoais ou de corporações que, não raro, trafegam na contramão do interesse da sociedade e do país.
O que resulta dessa pantomima ardilosa está registrado na crônica dos grupos que, ao longo da história republicana, apropriam-se do estado e da própria democracia a fim de proteger seus interesses em oposição ao bem comum.
Hoje, outra frase, dessa vez pronunciada pelo falecido deputado Ulysses Guimarães, inspira-me a fazer um pouco de luz na treva de incomunicação e caos promovida pelos chamados cabos eleitorais, especialmente na Internet, evocando outro importante órgão humano: o fígado. "Não se pode fazer política com o fígado, conservando rancor e ressentimentos na geladeira”, disse Ulysses, na transição da ditadura militar para a democracia, em 1984, período em que se tornou fundamental o diálogo entre diferentes setores políticos e sociais e entre estes e os generais dirigentes.
Trata-se de uma exortação atualíssima, cuja importância e utilidade crescem durante as campanhas. Aplica-se, principalmente, aos cabos eleitorais e aos eleitores menos afeitos à reflexão que, movidos por ambições pessoais e corporativas ou por ingenuidade, acabam realizando o “trabalho sujo” de fazer política com o fígado, enquanto seus candidatos, travestidos de vestais, posam na TV como conciliadores e vítimas.
Nesse nível o bom senso, a inteligência, as propostas, o debate e, sobretudo, a ética são sepultados pela explosão de bílis, com suas oscilações de rancor, destempero e irresponsabilidade, aqui incluídas a divulgação de versões desonestas de fatos ou de simples mentiras. Satanizar o adversário parece ser a única maneira de sensibilizar o eleitor, manipulando sua vontade a partir das sensações de nojo, medo e ódio.
Fazer política com o fígado costuma ser um recurso preferencial dos extremistas – estejam à direita ou à esquerda do continuum ideológico – e fundamenta-se, entre outros enganos e preconceitos, na suposição de que vale tudo na luta pelo poder e de que o povo, a grande massa marginalizada das decisões de governo e dos acordos de grupos, não entende argumentos, mas tão somente o espasmo das emoções. Em resumo: é desrespeito ao cidadão, ao eleitor e ao ser humano.
No ambiente barulhento das comoções, a voz da verdade é a primeira a ser abafada. Logo, cuidar do fígado, depois de abrir os olhos, é medida preventiva para mantermos a lucidez e, com ela, a capacidade de votar com liberdade e consciência.
30/09/2014
Há 15 dias, inspirado numa frase do filósofo Theilhard de Chardin, escrevi aqui que precisamos de olhos desenvolvidos e sagazes para enxergar, durante uma campanha eleitoral, a verdade dos candidatos, quase sempre escondida atrás de discursos vazios, mas sedutores, construídos com técnicas de propaganda e marketing. Nesse contexto, nocivo à cidadania e à democracia, os políticos são apresentados e percebidos pela maioria dos eleitores como produtos associados a desejos pessoais ou de corporações que, não raro, trafegam na contramão do interesse da sociedade e do país.
O que resulta dessa pantomima ardilosa está registrado na crônica dos grupos que, ao longo da história republicana, apropriam-se do estado e da própria democracia a fim de proteger seus interesses em oposição ao bem comum.
Hoje, outra frase, dessa vez pronunciada pelo falecido deputado Ulysses Guimarães, inspira-me a fazer um pouco de luz na treva de incomunicação e caos promovida pelos chamados cabos eleitorais, especialmente na Internet, evocando outro importante órgão humano: o fígado. "Não se pode fazer política com o fígado, conservando rancor e ressentimentos na geladeira”, disse Ulysses, na transição da ditadura militar para a democracia, em 1984, período em que se tornou fundamental o diálogo entre diferentes setores políticos e sociais e entre estes e os generais dirigentes.
Trata-se de uma exortação atualíssima, cuja importância e utilidade crescem durante as campanhas. Aplica-se, principalmente, aos cabos eleitorais e aos eleitores menos afeitos à reflexão que, movidos por ambições pessoais e corporativas ou por ingenuidade, acabam realizando o “trabalho sujo” de fazer política com o fígado, enquanto seus candidatos, travestidos de vestais, posam na TV como conciliadores e vítimas.
Nesse nível o bom senso, a inteligência, as propostas, o debate e, sobretudo, a ética são sepultados pela explosão de bílis, com suas oscilações de rancor, destempero e irresponsabilidade, aqui incluídas a divulgação de versões desonestas de fatos ou de simples mentiras. Satanizar o adversário parece ser a única maneira de sensibilizar o eleitor, manipulando sua vontade a partir das sensações de nojo, medo e ódio.
Fazer política com o fígado costuma ser um recurso preferencial dos extremistas – estejam à direita ou à esquerda do continuum ideológico – e fundamenta-se, entre outros enganos e preconceitos, na suposição de que vale tudo na luta pelo poder e de que o povo, a grande massa marginalizada das decisões de governo e dos acordos de grupos, não entende argumentos, mas tão somente o espasmo das emoções. Em resumo: é desrespeito ao cidadão, ao eleitor e ao ser humano.
No ambiente barulhento das comoções, a voz da verdade é a primeira a ser abafada. Logo, cuidar do fígado, depois de abrir os olhos, é medida preventiva para mantermos a lucidez e, com ela, a capacidade de votar com liberdade e consciência.

Nós e o Estado Islâmico
Analistas e chefes de estado admitem: estamos diante do perigo concreto de uma nova guerra mundial. Dessa vez, o estopim seria o Oriente Médio, região explosiva que vem recebendo continuamente o aporte de pólvora e calor pela interferência de potências bélicas ocidentais. As duas guerras do Iraque e a invasão desse país pelos Estados Unidos, com a destruição do equilíbrio precário entre etnias e grupos religiosos, parece ter acendido o pavio através do qual uma chama ameaçadora se propaga com rapidez.
Em 12 anos de presença intensiva dos Estados Unidos no Oriente Médio, o resultado foi... o surgimento do Estado Islâmico. Jamais na história recente, o fundamentalismo religioso, em aliança com o terrorismo, encontrou um contexto tão favorável à sua expansão. Seria um fenômeno previsível, se governos e interesses econômicos - os tradicionais agentes da guerra, mesmo quando sob inspiração religiosa – observassem e aprendessem com a História. Mas quem liga para a mensagem da História quando interesses avaros estão em jogo?
O passado ensina que nenhum império conseguiu evitar a própria decadência pelo uso da força bruta e de poderio militar. Ideias e crenças os enfraquecem e aniquilam.
A trajetória do Cristianismo, uma seita de excluídos da Judeia, está aí para confirmar. Escravos cristãos dobrariam o Império Romano, esvaziado de sentido no hedonismo e na luta pelo poder, com a força de uma mensagem que oferecia a corações e mentes um sentido para viver e para morrer. A verdadeira ameaça ao Cristianismo só viria depois quando, movidos pela condição humana, os cristãos perderam suas referências e corromperam seus fins e meios.
Movimentos como o Estado Islâmico, obviamente, não repetem a saga do ideal cristão, cujo poder emanava da especificidade de enfrentar a avareza e o ódio com a força imbatível do amor e a eficácia da estratégia de não validar os valores do mundo a que se opunha. O EI aparentemente é a expressão da loucura de corações e mentes esvaziados de sentido, sob a opressão de potências bélicas e suas culturas dominadoras.
Os especialistas, certamente, escreverão toneladas de ensaios para explicar a origem, o modus operandi e as possibilidades do Estado Islâmico. Aqui, no entanto, o ponto é o fato de que, emulando o fervor missionário das tradições espirituais em seu nascedouro, uma organização violenta avança e consegue atrair milhares de jovens ocidentais para a sua militância sangrenta.
Por que isso acontece? Por que os filhos da sociedade da abundância e da competitividade se deixam seduzir pelo fundamentalismo religioso e a ideologia do terror?
Para começar, lanço a minha dúvida. Talvez num mundo que elegeu o individualismo e sufocou o idealismo... Talvez num mundo em que os sonhos se resumem ao consumo e o sacrifício máximo é brigar por um time de futebol...Talvez num mundo materialista e vazio falte uma crença e um sentido pelos quais se possa viver ou morrer.
23/09/2014
Analistas e chefes de estado admitem: estamos diante do perigo concreto de uma nova guerra mundial. Dessa vez, o estopim seria o Oriente Médio, região explosiva que vem recebendo continuamente o aporte de pólvora e calor pela interferência de potências bélicas ocidentais. As duas guerras do Iraque e a invasão desse país pelos Estados Unidos, com a destruição do equilíbrio precário entre etnias e grupos religiosos, parece ter acendido o pavio através do qual uma chama ameaçadora se propaga com rapidez.
Em 12 anos de presença intensiva dos Estados Unidos no Oriente Médio, o resultado foi... o surgimento do Estado Islâmico. Jamais na história recente, o fundamentalismo religioso, em aliança com o terrorismo, encontrou um contexto tão favorável à sua expansão. Seria um fenômeno previsível, se governos e interesses econômicos - os tradicionais agentes da guerra, mesmo quando sob inspiração religiosa – observassem e aprendessem com a História. Mas quem liga para a mensagem da História quando interesses avaros estão em jogo?
O passado ensina que nenhum império conseguiu evitar a própria decadência pelo uso da força bruta e de poderio militar. Ideias e crenças os enfraquecem e aniquilam.
A trajetória do Cristianismo, uma seita de excluídos da Judeia, está aí para confirmar. Escravos cristãos dobrariam o Império Romano, esvaziado de sentido no hedonismo e na luta pelo poder, com a força de uma mensagem que oferecia a corações e mentes um sentido para viver e para morrer. A verdadeira ameaça ao Cristianismo só viria depois quando, movidos pela condição humana, os cristãos perderam suas referências e corromperam seus fins e meios.
Movimentos como o Estado Islâmico, obviamente, não repetem a saga do ideal cristão, cujo poder emanava da especificidade de enfrentar a avareza e o ódio com a força imbatível do amor e a eficácia da estratégia de não validar os valores do mundo a que se opunha. O EI aparentemente é a expressão da loucura de corações e mentes esvaziados de sentido, sob a opressão de potências bélicas e suas culturas dominadoras.
Os especialistas, certamente, escreverão toneladas de ensaios para explicar a origem, o modus operandi e as possibilidades do Estado Islâmico. Aqui, no entanto, o ponto é o fato de que, emulando o fervor missionário das tradições espirituais em seu nascedouro, uma organização violenta avança e consegue atrair milhares de jovens ocidentais para a sua militância sangrenta.
Por que isso acontece? Por que os filhos da sociedade da abundância e da competitividade se deixam seduzir pelo fundamentalismo religioso e a ideologia do terror?
Para começar, lanço a minha dúvida. Talvez num mundo que elegeu o individualismo e sufocou o idealismo... Talvez num mundo em que os sonhos se resumem ao consumo e o sacrifício máximo é brigar por um time de futebol...Talvez num mundo materialista e vazio falte uma crença e um sentido pelos quais se possa viver ou morrer.

Os olhos e a política
Em tempo de campanha eleitoral, releio trechos do excelente “As Paixões do Ego: Complexidade, Política e Solidariedade”, de Humberto Mariotti, e me surpreendo com uma frase secundária que não mereceu meu grifo na primeira vez em que li o livro, há 10 anos. Está lá: “Teilhard de Chardin afirma que o objetivo da evolução é chegar a olhos ainda mais perfeitos, num mundo em que há sempre algo mais a ser visto”.
Não se trata de uma frase novidadeira, como é de bom tom na sofreguidão consumista de nossos dias. Aliás, é até um antídoto para o veneno da ansiedade e da compulsão por estímulos que nos impede de ver e discernir.
O algo mais para ser visto não é necessariamente um objeto inédito, que acaba de nos ser apresentado. Na maioria das vezes, é o novo que emerge da mudança no modo de olhar, das coisas ou situações que sempre estiveram à nossa frente e nos escaparam, na primeira leitura, em razão de nossos condicionamentos.
Nisso consiste o nosso mundo (isto é, o modo como percebemos o mundo em que vivemos ) e sua possibilidade de evolução. Mas a mudança no modo de olhar começa pela autoconsciência (a atenção da atenção) e por um grau mínimo de autoconhecimento, o que pressupõe a habilidade de auto-observação.
Os olhos beneficiados com uma pitada de evolução certamente nos revelariam que não há nada mais velho e estagnado do que as campanhas eleitorais, em que pese os recursos high-tech e as técnicas de marketing utilizadas para seduzir (esta é a palavra!) o eleitor, sustentando o caduco sob a roupagem do novo. Se não conseguimos enxergar essa obviedade é porque, na política, como em tudo na vida, estamos sujeitos ao fenômeno do reducionismo, mocinho e vilão de nossas relações com o universo.
Em resumo: ao perceber um evento, imediatamente o reduzimos à nossa estrutura de compreensão, isto é, ao nosso conhecimento e à nossa ignorância. Feito isso, dificilmente, conseguimos reampliá-lo, para conferí-lo e cotejá-lo com os outros, sob o temor de destruir nossas certezas, que tornam nossa vida aparentemente mais segura e confortável.
Num sistema social que privilegia o individualismo, uma campanha política não foge aos valores e critérios que regem o mercado, o dia a dia das pessoas e o interesse dos tubarões. Candidatos são apresentados e percebidos como produtos e, como manda a regra da propaganda, precisam ser associados a sonhos pessoais de consumo e prazer, único jeito de conquistar o voto de eleitores tediosos para a atenção da atenção e a auto-observação.
O marketing político não opera para revelar, mas para esconder o candidato, seu histórico e suas intenções sob a embalagem de promessas vãs e irresponsáveis destinadas ao ego faminto de pessoas e corporações. E, neste caso, só olhos abertos para a claridade dos fatos nos livram da embriaguez das emoções, ajudando-nos a separar, no campo escuro do sistema viciado, o joio do trigo, um mínimo de seriedade da irresponsabilidade e do cinismo.
16/09/2014
Em tempo de campanha eleitoral, releio trechos do excelente “As Paixões do Ego: Complexidade, Política e Solidariedade”, de Humberto Mariotti, e me surpreendo com uma frase secundária que não mereceu meu grifo na primeira vez em que li o livro, há 10 anos. Está lá: “Teilhard de Chardin afirma que o objetivo da evolução é chegar a olhos ainda mais perfeitos, num mundo em que há sempre algo mais a ser visto”.
Não se trata de uma frase novidadeira, como é de bom tom na sofreguidão consumista de nossos dias. Aliás, é até um antídoto para o veneno da ansiedade e da compulsão por estímulos que nos impede de ver e discernir.
O algo mais para ser visto não é necessariamente um objeto inédito, que acaba de nos ser apresentado. Na maioria das vezes, é o novo que emerge da mudança no modo de olhar, das coisas ou situações que sempre estiveram à nossa frente e nos escaparam, na primeira leitura, em razão de nossos condicionamentos.
Nisso consiste o nosso mundo (isto é, o modo como percebemos o mundo em que vivemos ) e sua possibilidade de evolução. Mas a mudança no modo de olhar começa pela autoconsciência (a atenção da atenção) e por um grau mínimo de autoconhecimento, o que pressupõe a habilidade de auto-observação.
Os olhos beneficiados com uma pitada de evolução certamente nos revelariam que não há nada mais velho e estagnado do que as campanhas eleitorais, em que pese os recursos high-tech e as técnicas de marketing utilizadas para seduzir (esta é a palavra!) o eleitor, sustentando o caduco sob a roupagem do novo. Se não conseguimos enxergar essa obviedade é porque, na política, como em tudo na vida, estamos sujeitos ao fenômeno do reducionismo, mocinho e vilão de nossas relações com o universo.
Em resumo: ao perceber um evento, imediatamente o reduzimos à nossa estrutura de compreensão, isto é, ao nosso conhecimento e à nossa ignorância. Feito isso, dificilmente, conseguimos reampliá-lo, para conferí-lo e cotejá-lo com os outros, sob o temor de destruir nossas certezas, que tornam nossa vida aparentemente mais segura e confortável.
Num sistema social que privilegia o individualismo, uma campanha política não foge aos valores e critérios que regem o mercado, o dia a dia das pessoas e o interesse dos tubarões. Candidatos são apresentados e percebidos como produtos e, como manda a regra da propaganda, precisam ser associados a sonhos pessoais de consumo e prazer, único jeito de conquistar o voto de eleitores tediosos para a atenção da atenção e a auto-observação.
O marketing político não opera para revelar, mas para esconder o candidato, seu histórico e suas intenções sob a embalagem de promessas vãs e irresponsáveis destinadas ao ego faminto de pessoas e corporações. E, neste caso, só olhos abertos para a claridade dos fatos nos livram da embriaguez das emoções, ajudando-nos a separar, no campo escuro do sistema viciado, o joio do trigo, um mínimo de seriedade da irresponsabilidade e do cinismo.

Outro lado da depressão (final)
No final de seu ensaio, Allan Wallace nos apresenta uma proposta que pode ser a saída do labirinto de equívocos e preconceitos onde lidamos com a doença da depressão:
“No “mundo desenvolvido”, onde o materialismo tem maior influência, as pessoas estão tomando mais comprimidos do que nunca, sendo que um em cada cinco adultos nos Estados Unidos estão tomando ao menos um medicamento psiquiátrico. Enquanto isso, a indústria farmacêutica gasta bilhões de dólares para aumentar suas vendas por meio da publicidade direta ao público, além de marketing dirigido aos profissionais de saúde mental. Seus esforços foram recompensados. Durante a década de 1996 a 2005, o número de americanos que tomavam antidepressivos dobrou de 13,3 para 27 milhões e, em 2008, as vendas de antidepressivos atingiram a impressionante cifra de US$ 9,6 bilhões só nos EUA. Milhões de pessoas estão claramente desesperadas pelo alívio da angústia.
“Há um preço alto a pagar por essa dependência das drogas em longo prazo, além da óbvia carga monetária, já que esses medicamentos tratam apenas os sintomas de quase todos os casos de depressão, resultando em dependência prolongada, com sua vasta gama de possíveis efeitos colaterais negativos. Enquanto a indústria farmacêutica afirma que os antidepressivos ajudam cerca de 75% das pessoas, a falha de tais drogas para os 25% restantes pode de fato levar a um desespero ainda maior, pois as pessoas concluem que têm danos neurológicos irreversíveis.
“Cientificamente, é crucial determinar se os benefícios para a maioria de 75 por cento realmente resultam do tratamento com as drogas ou do efeito placebo. De acordo com um estudo publicado em 2002 no American Journal of Psychiatry, até 75 por cento da eficácia atribuída aos antidepressivos é realmente resultante do efeito placebo, que é uma designação incorreta para a eficácia da resposta consciente subjetiva a informações significativas. Outros estudos demonstram que quanto piores forem os efeitos colaterais, mais forte será o efeito placebo. Pacientes se convencem de que a droga que estão tomando é tão forte que causa náuseas e impotência, e então falsamente concluem que deve ser forte o suficiente para melhorar a depressão.
“A pesquisa histórica publicada no Journal of the American Medical Association em 2010 indica que os benefícios dos antidepressivos variam “de inexistentes a insignificantes” em pacientes com depressão leve, moderada e até mesmo grave, e que altas doses de antidepressivos são pouco mais eficazes do que doses baixas. Apenas em pacientes com sintomas muito graves (cerca de 13% das pessoas com depressão), observou-se um benefício estatisticamente significativo com o tratamento.
“(...) Em resumo, o fracasso em identificar e tratar as verdadeiras causas da depressão resultou em uma dependência excessiva de drogas e uma subutilização de métodos capazes de curar a partir da origem.
“Em resumo, o fracasso em identificar e tratar as verdadeiras causas da depressão resultou em uma dependência excessiva de drogas e uma subutilização de métodos capazes de curar a partir da origem. Os medicamentos desempenham um papel importante no auxílio ao manejo dos sintomas de doenças mentais, incluindo transtornos de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e depressão. Por exemplo, em casos de depressão muito grave, os antidepressivos ajudam a restaurar o equilíbrio emocional suficiente para que as pessoas possam se beneficiar de outras formas de tratamento, tais como terapia cognitivo-comportamental baseada em atenção plena. Mas como os transtornos mentais, da forma como os defini, contrariamente aos distúrbios neurológicos, são causados principalmente por fatores psicológicos subjetivos, ao invés de objetivos e biológicos, devemos nos voltar para a experiência em primeira pessoa, a fim de identificar suas verdadeiras causas.
“Existe uma complementaridade entre as metodologias da ciência moderna em terceira pessoa e as metodologias do budismo e outras tradições contemplativas em primeira pessoa. E, pela primeira vez na história, temos fácil acesso a ambos os sistemas de investigação, cada um com suas próprias forças e limitações.
(...) Temos agora a oportunidade de integrar métodos contemplativos e científicos de investigação para oferecermos uma compreensão abrangente da existência humana que inclua totalmente tanto os aspectos subjetivos quanto objetivos do mundo natural, sem reduzir um ao outro. Esta abordagem é uma promessa para curar as aflições do mundo moderno”.
09/09/2014
No final de seu ensaio, Allan Wallace nos apresenta uma proposta que pode ser a saída do labirinto de equívocos e preconceitos onde lidamos com a doença da depressão:
“No “mundo desenvolvido”, onde o materialismo tem maior influência, as pessoas estão tomando mais comprimidos do que nunca, sendo que um em cada cinco adultos nos Estados Unidos estão tomando ao menos um medicamento psiquiátrico. Enquanto isso, a indústria farmacêutica gasta bilhões de dólares para aumentar suas vendas por meio da publicidade direta ao público, além de marketing dirigido aos profissionais de saúde mental. Seus esforços foram recompensados. Durante a década de 1996 a 2005, o número de americanos que tomavam antidepressivos dobrou de 13,3 para 27 milhões e, em 2008, as vendas de antidepressivos atingiram a impressionante cifra de US$ 9,6 bilhões só nos EUA. Milhões de pessoas estão claramente desesperadas pelo alívio da angústia.
“Há um preço alto a pagar por essa dependência das drogas em longo prazo, além da óbvia carga monetária, já que esses medicamentos tratam apenas os sintomas de quase todos os casos de depressão, resultando em dependência prolongada, com sua vasta gama de possíveis efeitos colaterais negativos. Enquanto a indústria farmacêutica afirma que os antidepressivos ajudam cerca de 75% das pessoas, a falha de tais drogas para os 25% restantes pode de fato levar a um desespero ainda maior, pois as pessoas concluem que têm danos neurológicos irreversíveis.
“Cientificamente, é crucial determinar se os benefícios para a maioria de 75 por cento realmente resultam do tratamento com as drogas ou do efeito placebo. De acordo com um estudo publicado em 2002 no American Journal of Psychiatry, até 75 por cento da eficácia atribuída aos antidepressivos é realmente resultante do efeito placebo, que é uma designação incorreta para a eficácia da resposta consciente subjetiva a informações significativas. Outros estudos demonstram que quanto piores forem os efeitos colaterais, mais forte será o efeito placebo. Pacientes se convencem de que a droga que estão tomando é tão forte que causa náuseas e impotência, e então falsamente concluem que deve ser forte o suficiente para melhorar a depressão.
“A pesquisa histórica publicada no Journal of the American Medical Association em 2010 indica que os benefícios dos antidepressivos variam “de inexistentes a insignificantes” em pacientes com depressão leve, moderada e até mesmo grave, e que altas doses de antidepressivos são pouco mais eficazes do que doses baixas. Apenas em pacientes com sintomas muito graves (cerca de 13% das pessoas com depressão), observou-se um benefício estatisticamente significativo com o tratamento.
“(...) Em resumo, o fracasso em identificar e tratar as verdadeiras causas da depressão resultou em uma dependência excessiva de drogas e uma subutilização de métodos capazes de curar a partir da origem.
“Em resumo, o fracasso em identificar e tratar as verdadeiras causas da depressão resultou em uma dependência excessiva de drogas e uma subutilização de métodos capazes de curar a partir da origem. Os medicamentos desempenham um papel importante no auxílio ao manejo dos sintomas de doenças mentais, incluindo transtornos de ansiedade, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e depressão. Por exemplo, em casos de depressão muito grave, os antidepressivos ajudam a restaurar o equilíbrio emocional suficiente para que as pessoas possam se beneficiar de outras formas de tratamento, tais como terapia cognitivo-comportamental baseada em atenção plena. Mas como os transtornos mentais, da forma como os defini, contrariamente aos distúrbios neurológicos, são causados principalmente por fatores psicológicos subjetivos, ao invés de objetivos e biológicos, devemos nos voltar para a experiência em primeira pessoa, a fim de identificar suas verdadeiras causas.
“Existe uma complementaridade entre as metodologias da ciência moderna em terceira pessoa e as metodologias do budismo e outras tradições contemplativas em primeira pessoa. E, pela primeira vez na história, temos fácil acesso a ambos os sistemas de investigação, cada um com suas próprias forças e limitações.
(...) Temos agora a oportunidade de integrar métodos contemplativos e científicos de investigação para oferecermos uma compreensão abrangente da existência humana que inclua totalmente tanto os aspectos subjetivos quanto objetivos do mundo natural, sem reduzir um ao outro. Esta abordagem é uma promessa para curar as aflições do mundo moderno”.

Outro lado da depressão - 3
Para ver além das aparências e lidar de forma eficaz com as raízes da depressão, é preciso romper preconceitos e assumir a dor de desestabilizar nossas ilusões e referências. Na penúltima parte de nossa “conversa” com Alan Wallace, o materialismo científico é questionado antes das considerações finais sobre tratamentos cognitivos da depressão e suas eventuais relações com o tratamento convencional à base de drogas farmacêuticas:
“No decorrer de nossas vidas, podemos compor nossas tendências delusórias inatas de má-compreensão da realidade, com os tipos de delusão que colhemos de nosso ambiente cultural e da educação. Em minha opinião, o materialismo científico é uma espécie de delusão adquirida, que domina a educação moderna, a investigação científica e a mídia popular. Esta é a visão de que toda a realidade consiste em nada mais do que massa-energia, espaço-tempo e suas propriedades derivativas.
“Os materialistas também comumente acreditam que apenas os processos físicos têm eficácia causal, o que implica que as únicas influências sobre o cérebro são as físicas. Esta crença ignora a eficácia causal de informações significativas, que não podem ser medidas por máquinas irracionais, mas podem ser detectadas pela inteligência consciente subjetiva.
“Os únicos tipos de fenômenos naturais que os cientistas podem medir com seus instrumentos tecnológicos são os objetivos, físicos e quantificáveis. Mas os processos mentais, em contraste com suas expressões comportamentais e seus correlatos neurais, são subjetivos, não têm atributos físicos e são qualitativos. Os materialistas, portanto, equiparam o que eles não podem medir, a experiência subjetiva, àquilo que podem medir.
“Isto implica uma espécie de “metodolatria” pela qual se assume que os métodos científicos de investigação em terceira pessoa constituem “o único e verdadeiro caminho” para a compreensão do mundo natural, enquanto desconsideram os insights e descobertas que podem ser feitos por meio da introspecção e investigação contemplativa em primeira pessoa. Rejeito ambas as abordagens excludentes para a compreensão da natureza já que não são validadas por evidências empíricas e nem pelo argumento lógico.
“Os materialistas frequentemente equiparam pessoas a seus cérebros, os quais operam de acordo com as leis amorais e irracionais da física e da química. Muitas pessoas, inclusive eu, acham que essa crença não apenas é infundada por evidência empírica, mas também desumanizador, incapacitante e desmoralizante. A doutrinação neste sistema de crenças, especialmente quando é apresentado como sendo parte integrante de toda visão científica de mundo, pode ser uma importante causa indireta da depressão no mundo moderno.
“É fundamental observar que muitos cientistas não aderem aos princípios metafísicos do materialismo. Isto implica claramente que não são uma característica necessária do pensamento científico”.
02/09/2014
Para ver além das aparências e lidar de forma eficaz com as raízes da depressão, é preciso romper preconceitos e assumir a dor de desestabilizar nossas ilusões e referências. Na penúltima parte de nossa “conversa” com Alan Wallace, o materialismo científico é questionado antes das considerações finais sobre tratamentos cognitivos da depressão e suas eventuais relações com o tratamento convencional à base de drogas farmacêuticas:
“No decorrer de nossas vidas, podemos compor nossas tendências delusórias inatas de má-compreensão da realidade, com os tipos de delusão que colhemos de nosso ambiente cultural e da educação. Em minha opinião, o materialismo científico é uma espécie de delusão adquirida, que domina a educação moderna, a investigação científica e a mídia popular. Esta é a visão de que toda a realidade consiste em nada mais do que massa-energia, espaço-tempo e suas propriedades derivativas.
“Os materialistas também comumente acreditam que apenas os processos físicos têm eficácia causal, o que implica que as únicas influências sobre o cérebro são as físicas. Esta crença ignora a eficácia causal de informações significativas, que não podem ser medidas por máquinas irracionais, mas podem ser detectadas pela inteligência consciente subjetiva.
“Os únicos tipos de fenômenos naturais que os cientistas podem medir com seus instrumentos tecnológicos são os objetivos, físicos e quantificáveis. Mas os processos mentais, em contraste com suas expressões comportamentais e seus correlatos neurais, são subjetivos, não têm atributos físicos e são qualitativos. Os materialistas, portanto, equiparam o que eles não podem medir, a experiência subjetiva, àquilo que podem medir.
“Isto implica uma espécie de “metodolatria” pela qual se assume que os métodos científicos de investigação em terceira pessoa constituem “o único e verdadeiro caminho” para a compreensão do mundo natural, enquanto desconsideram os insights e descobertas que podem ser feitos por meio da introspecção e investigação contemplativa em primeira pessoa. Rejeito ambas as abordagens excludentes para a compreensão da natureza já que não são validadas por evidências empíricas e nem pelo argumento lógico.
“Os materialistas frequentemente equiparam pessoas a seus cérebros, os quais operam de acordo com as leis amorais e irracionais da física e da química. Muitas pessoas, inclusive eu, acham que essa crença não apenas é infundada por evidência empírica, mas também desumanizador, incapacitante e desmoralizante. A doutrinação neste sistema de crenças, especialmente quando é apresentado como sendo parte integrante de toda visão científica de mundo, pode ser uma importante causa indireta da depressão no mundo moderno.
“É fundamental observar que muitos cientistas não aderem aos princípios metafísicos do materialismo. Isto implica claramente que não são uma característica necessária do pensamento científico”.

Outro lado da depressão - 2
Quando encaramos a depressão como um transtorno mental, e não apenas como um distúrbio neuroquímico, contornamos uma armadilha conceitual na qual permanecemos prisioneiros de nossas ilusões e, sobretudo, do uso progressivo de drogas farmacêuticas. Essa é uma atitude simples, mas nem sempre fácil, devido à subjugação prazerosa às nossas próprias aflições.
Aqui, outra vez, as palavras de Alan Wallace, no artigo que começamos a compartilhar na coluna passada, podem nos devolver o sentido:
“Se buscarmos pelos processos psicológicos aflitivos que podem resultar em depressão dentro do contexto budista, veremos que os chamados Cinco Obstáculos, ou “obscurecimentos” desempenham um papel crucial. Estes incluem o desejo e o apego aos prazeres hedônicos, incluindo os relacionados com a riqueza, poder e fama (resultando em frustração e ansiedade crônicas); malevolência e ressentimento; déficit de atenção e embotamento; hiperatividade e culpa, e a incerteza debilitante. (…) A mente de uma pessoa que está propensa a esses obscurecimentos pode ser normal, mas não é saudável.
“A depressão que se origina de qualquer um desses obscurecimentos é indiretamente aliviada com o cultivo da disciplina ética baseada na não violência e na benevolência, e diretamente abrandada com samadhi ou atenção focada. Por meio do treinamento do samadhi, incluindo o cultivo da atenção plena e da introspecção, aprende-se a superar a tendência habitual da ruminação negativa e a desenvolver uma sensação de bem-estar físico e mental, juntamente com o aumento da estabilidade da atenção e clareza. A eficácia curativa de tal prática meditativa é ainda mais aumentada com o cultivo das virtudes sublimes de bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade.
“A delusão se encontra na raiz das aflições mentais de desejo ardente e hostilidade, e pode ser de dois tipos: inata e adquirida. As formas inatas de ilusão incluem os vieses cognitivos de ver o impermanente como permanente, confundir as verdadeiras fontes de sofrimento e de felicidade genuína, e reificar equivocadamente fenômenos internos e externos como “eu” e “meu”. Assim, com base no equilíbrio mental alcançado por meio de samadhi, pode-se então engajar efetivamente na prática da meditação de insight, resultando na sabedoria libertadora de realizar a natureza da impermanência, do sofrimento e da ausência de identidade. Tal sabedoria serve como um antídoto direto para a depressão, curando suas causas mais fundamentais da compreensão equivocada da natureza da realidade.
É importante não confundir o transtorno mental da depressão com a tristeza e a desilusão que se originam do aprofundamento do insight sobre a natureza da realidade. (…) Essa tristeza pode servir como um elemento chave na busca de um modo de vida mais satisfatório, altruísta e autêntico, bem como de formas mais eficazes de colocar-se a serviço de outros.”
26/08/2014
Quando encaramos a depressão como um transtorno mental, e não apenas como um distúrbio neuroquímico, contornamos uma armadilha conceitual na qual permanecemos prisioneiros de nossas ilusões e, sobretudo, do uso progressivo de drogas farmacêuticas. Essa é uma atitude simples, mas nem sempre fácil, devido à subjugação prazerosa às nossas próprias aflições.
Aqui, outra vez, as palavras de Alan Wallace, no artigo que começamos a compartilhar na coluna passada, podem nos devolver o sentido:
“Se buscarmos pelos processos psicológicos aflitivos que podem resultar em depressão dentro do contexto budista, veremos que os chamados Cinco Obstáculos, ou “obscurecimentos” desempenham um papel crucial. Estes incluem o desejo e o apego aos prazeres hedônicos, incluindo os relacionados com a riqueza, poder e fama (resultando em frustração e ansiedade crônicas); malevolência e ressentimento; déficit de atenção e embotamento; hiperatividade e culpa, e a incerteza debilitante. (…) A mente de uma pessoa que está propensa a esses obscurecimentos pode ser normal, mas não é saudável.
“A depressão que se origina de qualquer um desses obscurecimentos é indiretamente aliviada com o cultivo da disciplina ética baseada na não violência e na benevolência, e diretamente abrandada com samadhi ou atenção focada. Por meio do treinamento do samadhi, incluindo o cultivo da atenção plena e da introspecção, aprende-se a superar a tendência habitual da ruminação negativa e a desenvolver uma sensação de bem-estar físico e mental, juntamente com o aumento da estabilidade da atenção e clareza. A eficácia curativa de tal prática meditativa é ainda mais aumentada com o cultivo das virtudes sublimes de bondade amorosa, compaixão, alegria empática e equanimidade.
“A delusão se encontra na raiz das aflições mentais de desejo ardente e hostilidade, e pode ser de dois tipos: inata e adquirida. As formas inatas de ilusão incluem os vieses cognitivos de ver o impermanente como permanente, confundir as verdadeiras fontes de sofrimento e de felicidade genuína, e reificar equivocadamente fenômenos internos e externos como “eu” e “meu”. Assim, com base no equilíbrio mental alcançado por meio de samadhi, pode-se então engajar efetivamente na prática da meditação de insight, resultando na sabedoria libertadora de realizar a natureza da impermanência, do sofrimento e da ausência de identidade. Tal sabedoria serve como um antídoto direto para a depressão, curando suas causas mais fundamentais da compreensão equivocada da natureza da realidade.
É importante não confundir o transtorno mental da depressão com a tristeza e a desilusão que se originam do aprofundamento do insight sobre a natureza da realidade. (…) Essa tristeza pode servir como um elemento chave na busca de um modo de vida mais satisfatório, altruísta e autêntico, bem como de formas mais eficazes de colocar-se a serviço de outros.”

Outro lado da depressão - 1
O recente suicídio do ator Robin Williams trouxe de volta à vitrine da mídia a doença da depressão, mas, lamentavelmente, os textos e vídeos produzidos continuaram divagando na superficialidade dos sintomas e na explicação simplista de que ela se reduz a um distúrbio neuroquímico.
Abrir a caixa preta da depressão não é tarefa confortável – e não apenas pelas pressões do lobby da indústria farmacêutica e do materialismo acadêmico. Isso mexe com nossas ilusões mais caras, desafia nossos valores e referências e nos coloca diante do desafio assustador de recriar o mundo.
B. Allan Wallace, físico, filósofo e ex-monge budista escreveu um artigo que resume esse outro enfoque do problema, cujos trechos relevantes, a partir de hoje, compartilho com você:
“Para que a depressão seja tratada de forma eficaz, é preciso identificar as causas e circunstâncias específicas que contribuem para cada caso. Do contrário, existe o perigo de tratarmos cegamente seus sintomas sem resolvermos as causas subjacentes. De acordo com estudos recentes, é altamente improvável que a depressão resulte puramente de desequilíbrios químicos, exceto em raros casos de deficiências de vitaminas, acidente vascular cerebral e assim por diante. Além disso, a síntese de centenas de estudos indica que os antidepressivos não são mais eficazes no tratamento da depressão resultante desses tipos de causas do que no tratamento da depressão resultante de causas relacionadas ao estresse. Isto implica que a depressão é mais bem entendida como um transtorno mental, não como um distúrbio neurológico.
“Doenças neurológicas, como o autismo, derivam principalmente de fatores biológicos objetivos, que por sua vez afetam a experiência subjetiva. Transtornos mentais derivam principalmente de processos mentais subjetivos, que por sua vez afetam o cérebro. Minha hipótese subjacente é de que a mente e o cérebro são causalmente relacionados, mas não são idênticos.
“As evidências sugerem que a depressão é mais bem compreendida como um transtorno mental e, portanto, a verdadeira cura deverá ser encontrada por meio do exame de suas principais causas psicológicas. Esta forma de distinção entre os transtornos mentais e os neurológicos ajuda a explicar porque o nosso conhecimento sobre o cérebro, embora em rápido crescimento, não resultou em um grau correspondente de progresso no desenvolvimento de medicamentos para tratar doenças mentais.
“De acordo com a psicologia budista, a depressão maior não é considerada por si só uma “aflição mental”, mas é um sintoma das aflições subjacentes de hostilidade, desejo ardente e delusão. Todas as aflições mentais são caracterizadas por perturbar o equilíbrio da mente, resultando em um comportamento negativo, que por sua vez dá origem ao sofrimento, para nós e para os outros. O cultivo da ética, samadhi e sabedoria, destina-se a corrigir estas verdadeiras causas da miséria humana.”
19/08/2014
O recente suicídio do ator Robin Williams trouxe de volta à vitrine da mídia a doença da depressão, mas, lamentavelmente, os textos e vídeos produzidos continuaram divagando na superficialidade dos sintomas e na explicação simplista de que ela se reduz a um distúrbio neuroquímico.
Abrir a caixa preta da depressão não é tarefa confortável – e não apenas pelas pressões do lobby da indústria farmacêutica e do materialismo acadêmico. Isso mexe com nossas ilusões mais caras, desafia nossos valores e referências e nos coloca diante do desafio assustador de recriar o mundo.
B. Allan Wallace, físico, filósofo e ex-monge budista escreveu um artigo que resume esse outro enfoque do problema, cujos trechos relevantes, a partir de hoje, compartilho com você:
“Para que a depressão seja tratada de forma eficaz, é preciso identificar as causas e circunstâncias específicas que contribuem para cada caso. Do contrário, existe o perigo de tratarmos cegamente seus sintomas sem resolvermos as causas subjacentes. De acordo com estudos recentes, é altamente improvável que a depressão resulte puramente de desequilíbrios químicos, exceto em raros casos de deficiências de vitaminas, acidente vascular cerebral e assim por diante. Além disso, a síntese de centenas de estudos indica que os antidepressivos não são mais eficazes no tratamento da depressão resultante desses tipos de causas do que no tratamento da depressão resultante de causas relacionadas ao estresse. Isto implica que a depressão é mais bem entendida como um transtorno mental, não como um distúrbio neurológico.
“Doenças neurológicas, como o autismo, derivam principalmente de fatores biológicos objetivos, que por sua vez afetam a experiência subjetiva. Transtornos mentais derivam principalmente de processos mentais subjetivos, que por sua vez afetam o cérebro. Minha hipótese subjacente é de que a mente e o cérebro são causalmente relacionados, mas não são idênticos.
“As evidências sugerem que a depressão é mais bem compreendida como um transtorno mental e, portanto, a verdadeira cura deverá ser encontrada por meio do exame de suas principais causas psicológicas. Esta forma de distinção entre os transtornos mentais e os neurológicos ajuda a explicar porque o nosso conhecimento sobre o cérebro, embora em rápido crescimento, não resultou em um grau correspondente de progresso no desenvolvimento de medicamentos para tratar doenças mentais.
“De acordo com a psicologia budista, a depressão maior não é considerada por si só uma “aflição mental”, mas é um sintoma das aflições subjacentes de hostilidade, desejo ardente e delusão. Todas as aflições mentais são caracterizadas por perturbar o equilíbrio da mente, resultando em um comportamento negativo, que por sua vez dá origem ao sofrimento, para nós e para os outros. O cultivo da ética, samadhi e sabedoria, destina-se a corrigir estas verdadeiras causas da miséria humana.”

Sampa e o verbo matar
Na adolescência eu olhava para São Paulo através do preconceito. E, como todo preconceito, este também era fruto da ignorância e do medo. Conhecia Sampa apenas pelo relato de visitantes assustados com aquele mundão agitado, com seus valores tão diversos dos nossos. Assim, se era para crescer longe de meu torrão, preferia o Rio de Janeiro, cuja alma romântica eu já captara pelas ondas curtas do rádio.
Em 1975 a vida abriu-me as portas da USP e, logo em seguida, as do Estadão, da Veja, da Folha, da Istoé e, principalmente, as de corações amigos e chefes talentosos que tive a sorte de conhecer na Paulicéia. Então, casei com São Paulo. Por amor, e não por paixão, o que explica a nossa relação duradora, de 23 anos, cuja essência sobreviveu ao suave divórcio, quando uma sacudida radical em meus valores e metas indicou-me o caminho de volta para Natal, de onde, graças à Internet, continuei atuando na imprensa paulistana até aposentar-me em 2006.
Sampa continua em minha vida, embora eu tenha pulado fora de sua rotina, e na calada da noite – estando eu em Natal ou em visita à sua casa barulhenta, como acontece no momento em que escrevo este texto - trocamos carinhos e revelações que, ultimamente, voltaram a assustar o menino que um dia temeu o olhar altivo da velha dama.
Preocupa-me o fato de os paulistanos, que no passado se excediam em conversas sobre trabalho mesmo em momentos de lazer, estarem a cada dia mais envolvidos com a conjugação do verbo “matar”. Não é exagero. É quase uma epidemia.
Nas ruas, em pontos de ônibus, banheiros públicos, metrô e shoppings frequentados pelas classes emergentes, expressões como “tem que morrer” e “tem que passar na bala” se repetem ao infinito, não apenas pela boca dos “nóias” que, drogados, perambulam gritando a sua dor, mas também pelas de jovens estudantes, trabalhadores e até mães. Nada velado, tudo explícito e violento.
Nos cafés e bares sofisticados, a morte também se senta à mesa, travestida de opiniões ultraconservadoras e de uma insensibilidade social que beira ao escândalo em detalhes como a defesa da redução da maioridade penal e a crítica aos programas de transferência de renda que tiraram milhões de brasileiros da fome a um custo mínimo para a classe média e, praticamente, custo zero para os ricos. Nesse nível, às vezes as palavras são refinadas, mas não menos violentas e mortais.
Sampa parece hipnotizada pelas mensagens dos comunicadores sensacionalistas e dos políticos oportunistas. Povo e elite parecem ter perdido o rumo do bom senso e da justiça. Há paranóia nos argumentos mais pomposos, incapazes de enxergar causa e condição na rotina de espasmos da grande cidade.
É grave. São Paulo, por seu poderio econômico e cultural e, sobretudo, por seu papel de exportadora de valores e tendências para todo o país, merece a prioridade de ações das instâncias do poder e da sociedade num esforço para reeducar a comunidade e, assim, livrar-nos do non sense da brutalidade consentida. Amanhã pode ser tarde.
12/08/2014
Na adolescência eu olhava para São Paulo através do preconceito. E, como todo preconceito, este também era fruto da ignorância e do medo. Conhecia Sampa apenas pelo relato de visitantes assustados com aquele mundão agitado, com seus valores tão diversos dos nossos. Assim, se era para crescer longe de meu torrão, preferia o Rio de Janeiro, cuja alma romântica eu já captara pelas ondas curtas do rádio.
Em 1975 a vida abriu-me as portas da USP e, logo em seguida, as do Estadão, da Veja, da Folha, da Istoé e, principalmente, as de corações amigos e chefes talentosos que tive a sorte de conhecer na Paulicéia. Então, casei com São Paulo. Por amor, e não por paixão, o que explica a nossa relação duradora, de 23 anos, cuja essência sobreviveu ao suave divórcio, quando uma sacudida radical em meus valores e metas indicou-me o caminho de volta para Natal, de onde, graças à Internet, continuei atuando na imprensa paulistana até aposentar-me em 2006.
Sampa continua em minha vida, embora eu tenha pulado fora de sua rotina, e na calada da noite – estando eu em Natal ou em visita à sua casa barulhenta, como acontece no momento em que escrevo este texto - trocamos carinhos e revelações que, ultimamente, voltaram a assustar o menino que um dia temeu o olhar altivo da velha dama.
Preocupa-me o fato de os paulistanos, que no passado se excediam em conversas sobre trabalho mesmo em momentos de lazer, estarem a cada dia mais envolvidos com a conjugação do verbo “matar”. Não é exagero. É quase uma epidemia.
Nas ruas, em pontos de ônibus, banheiros públicos, metrô e shoppings frequentados pelas classes emergentes, expressões como “tem que morrer” e “tem que passar na bala” se repetem ao infinito, não apenas pela boca dos “nóias” que, drogados, perambulam gritando a sua dor, mas também pelas de jovens estudantes, trabalhadores e até mães. Nada velado, tudo explícito e violento.
Nos cafés e bares sofisticados, a morte também se senta à mesa, travestida de opiniões ultraconservadoras e de uma insensibilidade social que beira ao escândalo em detalhes como a defesa da redução da maioridade penal e a crítica aos programas de transferência de renda que tiraram milhões de brasileiros da fome a um custo mínimo para a classe média e, praticamente, custo zero para os ricos. Nesse nível, às vezes as palavras são refinadas, mas não menos violentas e mortais.
Sampa parece hipnotizada pelas mensagens dos comunicadores sensacionalistas e dos políticos oportunistas. Povo e elite parecem ter perdido o rumo do bom senso e da justiça. Há paranóia nos argumentos mais pomposos, incapazes de enxergar causa e condição na rotina de espasmos da grande cidade.
É grave. São Paulo, por seu poderio econômico e cultural e, sobretudo, por seu papel de exportadora de valores e tendências para todo o país, merece a prioridade de ações das instâncias do poder e da sociedade num esforço para reeducar a comunidade e, assim, livrar-nos do non sense da brutalidade consentida. Amanhã pode ser tarde.

Simples, bom e barato
Estou em Belo Horizonte e ontem pude testar um dos principais ganhos desta cidade com a Copa do Mundo: o Move, moderno sistema de transporte BRT (Bus Rapid Transit ou, como dizemos em português, veículo leve sobre pneus), implantado nos principais corredores de trânsito, ligando o centro à periferia. Estive em BH há exatamente um ano, quando ainda não existia o serviço, e, assim, como usuário de transporte coletivo em minhas andanças, foi possível constatar o enorme ganho em rapidez, conforto e custo adicionado à vida das pessoas pelo novo sistema.
Um BRT é uma espécie de metrô de superfície, com ônibus articulados e espaçosos, limpos e climatizados, circulando em faixa própria no centro da avenida. Com várias portas de acesso, sem degraus, já que se encontram no mesmo nível da plataforma elevada das estações, permitem a rápida movimentação de passageiros, que, por sua vez, contribuem para a agilidade das operações ao pagarem a passagem na bilheteria da estação e não dentro do ônibus. O fluxo de veículos é cronometrado e o usuário sabe com exatidão quando chegará o ônibus que o levará a seu destino. Como no metrô, as paradas são anunciadas previamente pelo serviço de som e em painéis eletrônicos no interior do veículo.
Confesso que achei mais organizado o BRT de Bogotá, na Colômbia, o chamado Transmilênio, que usei em 2008. O de BH, por enquanto com menos linhas e menos corredores que o similar colombiano, chega a ser desfigurado pela superlotação herdada do sistema de ônibus tradicionais, mas cumpre satisfatoriamente a sua função.
O ponto é que dispomos de uma solução brasileira simples e eficaz para o problema da mobilidade urbana – sim, os BRTs nasceram em Curitiba, em 1974, e hoje se espalham por 166 cidades, dos Estados Unidos à China, do Equador à Turquia – que apenas por incapacidade administrativa ou interesses de grupos não se encontra disseminado em nosso país.
Só Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia, Uberlândia e São Paulo tem sistema BRT em operação. Rio de Janeiro, por causa das olímpiadas, Brasília e Uberaba, preparam-se para implantar os seus. Belém discute um projeto do gênero.
O custo de implantação de um BRT é infinitamente menor que o da construção de um metrô e mais barato que o de um sistema VLT – Veículo Leve sobre Trilhos, que chegou a ser cogitado para Natal, quando ainda se imaginava que a Copa viabilizaria soluções ousadas para o questão da mobilidade.
A verdade é que, na maioria das cidades-sedes do Mundial da Fifa, as obras estruturais foram inspiradas pelo velho fetiche nacional do automóvel, atendendo aos que lucram com cidades projetadas para o carro e não para o homem. Belo Horizonte, com o seu BRT Move, soube aplicar de forma inteligente e útil pelo menos uma parte dos recursos liberados pelo governo federal a fim de que a Copa não fosse para nós apenas uma festa, uma celebração.
05/08/2014
Estou em Belo Horizonte e ontem pude testar um dos principais ganhos desta cidade com a Copa do Mundo: o Move, moderno sistema de transporte BRT (Bus Rapid Transit ou, como dizemos em português, veículo leve sobre pneus), implantado nos principais corredores de trânsito, ligando o centro à periferia. Estive em BH há exatamente um ano, quando ainda não existia o serviço, e, assim, como usuário de transporte coletivo em minhas andanças, foi possível constatar o enorme ganho em rapidez, conforto e custo adicionado à vida das pessoas pelo novo sistema.
Um BRT é uma espécie de metrô de superfície, com ônibus articulados e espaçosos, limpos e climatizados, circulando em faixa própria no centro da avenida. Com várias portas de acesso, sem degraus, já que se encontram no mesmo nível da plataforma elevada das estações, permitem a rápida movimentação de passageiros, que, por sua vez, contribuem para a agilidade das operações ao pagarem a passagem na bilheteria da estação e não dentro do ônibus. O fluxo de veículos é cronometrado e o usuário sabe com exatidão quando chegará o ônibus que o levará a seu destino. Como no metrô, as paradas são anunciadas previamente pelo serviço de som e em painéis eletrônicos no interior do veículo.
Confesso que achei mais organizado o BRT de Bogotá, na Colômbia, o chamado Transmilênio, que usei em 2008. O de BH, por enquanto com menos linhas e menos corredores que o similar colombiano, chega a ser desfigurado pela superlotação herdada do sistema de ônibus tradicionais, mas cumpre satisfatoriamente a sua função.
O ponto é que dispomos de uma solução brasileira simples e eficaz para o problema da mobilidade urbana – sim, os BRTs nasceram em Curitiba, em 1974, e hoje se espalham por 166 cidades, dos Estados Unidos à China, do Equador à Turquia – que apenas por incapacidade administrativa ou interesses de grupos não se encontra disseminado em nosso país.
Só Curitiba, Belo Horizonte, Goiânia, Uberlândia e São Paulo tem sistema BRT em operação. Rio de Janeiro, por causa das olímpiadas, Brasília e Uberaba, preparam-se para implantar os seus. Belém discute um projeto do gênero.
O custo de implantação de um BRT é infinitamente menor que o da construção de um metrô e mais barato que o de um sistema VLT – Veículo Leve sobre Trilhos, que chegou a ser cogitado para Natal, quando ainda se imaginava que a Copa viabilizaria soluções ousadas para o questão da mobilidade.
A verdade é que, na maioria das cidades-sedes do Mundial da Fifa, as obras estruturais foram inspiradas pelo velho fetiche nacional do automóvel, atendendo aos que lucram com cidades projetadas para o carro e não para o homem. Belo Horizonte, com o seu BRT Move, soube aplicar de forma inteligente e útil pelo menos uma parte dos recursos liberados pelo governo federal a fim de que a Copa não fosse para nós apenas uma festa, uma celebração.

O tempo e a transparência
Como qualquer humano, tenho meus apegos – essa causa primeira de todo sofrimento. Mas, graças a Deus e à minha prática meditativa, até aqui consigo percorrer a última etapa de minha trilha sem esbravejar contra a vida, sem nenhuma aversão aos meus 61 anos. Talvez porque, graças ao meu estilo de vida, ainda mantenho o corpo relativamente saudável, embora mais lento, sem hipocondria e sem os remédios de uso contínuo que envenenam a vida de tanta gente. Talvez porque, lá dentro, sou ainda o jovem encantado com as descobertas do cotidiano que, ignorante da passagem do tempo, permite-se experimentar e correr riscos pelo simples prazer de saborear as dádivas do presente.
A verdade é que, entre alegrias e tristezas (elas sempre se alternarão até que aprendamos a lição da equanimidade e da impermanência), sinto-me à vontade nesta quadra e não vejo razão para o apego exagerado de alguns homens maduros à passada juventude.
Certa vez, num banheiro do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, flagrei um sexagenário que, diante do espelho, reagia com fúria à sua própria imagem, ironizando com palavrões o eufemismo “melhor idade”, geralmente usado para encobrir o preconceito de uma sociedade que cultua a novidade e despreza a experiência. Estava aprisonando a um padrão cultural que o impedia de enxergar seus recursos e suas chances.
Uma pessoa assim, amarrada ao pelourinho do tempo, jamais decairá com a nobreza de um Ariano Suassuna (evito citar aqui Francisco de Assis que, leproso, morreu cantando, para que não imaginemos que a altivez na debilidade do corpo ou na velhice é atributo exclusivo dos santos). Entre queixas, continuará se escondendo, até o fim, atrás de conceitos consumistas, impedindo o fluir natural e multicor do sopro da vida.
Penso que uma das vantagens mais notórias do envelhecer bem é o resgate da transparência, da autenticidade obscurecida durante anos no jogo de conveniências da população economicamente ativa. A experiência e a maturidade nos trazem um mínimo de segurança para afirmar para nós próprios que máscaras e verniz social são incômodos e que é possível ser nós mesmos, livres da preocupação com aplausos, sem perder o respeito pelas diferenças, e até com um ganho de bom-humor.
Surpreendo-me e divirto-me, hoje em dia, com a minha rigidez nos anos juvenis, com minha preocupação e ansiedade em seguir a cartilha e minha incapacidade de rir de mim mesmo naqueles tempos. Além de ampliar minha visão, a velhice me deixou mais leve. Mas não só a mim, que sigo na planície.
Um dia após a morte de Ariano Suassuna assisti a trechos de suas palestras nos últimos 40 anos e pude constatar: mesmo um gênio, como ele, precisa do tempo para se completar. O velho Ariano tornou-se mais solto e mais autêntico e, sobretudo, bem-humorado. É quando, no palco da vida, o ator (o ser) se impõe ao personagem e o papel cede lugar à missão.
29/07/2014
Como qualquer humano, tenho meus apegos – essa causa primeira de todo sofrimento. Mas, graças a Deus e à minha prática meditativa, até aqui consigo percorrer a última etapa de minha trilha sem esbravejar contra a vida, sem nenhuma aversão aos meus 61 anos. Talvez porque, graças ao meu estilo de vida, ainda mantenho o corpo relativamente saudável, embora mais lento, sem hipocondria e sem os remédios de uso contínuo que envenenam a vida de tanta gente. Talvez porque, lá dentro, sou ainda o jovem encantado com as descobertas do cotidiano que, ignorante da passagem do tempo, permite-se experimentar e correr riscos pelo simples prazer de saborear as dádivas do presente.
A verdade é que, entre alegrias e tristezas (elas sempre se alternarão até que aprendamos a lição da equanimidade e da impermanência), sinto-me à vontade nesta quadra e não vejo razão para o apego exagerado de alguns homens maduros à passada juventude.
Certa vez, num banheiro do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, flagrei um sexagenário que, diante do espelho, reagia com fúria à sua própria imagem, ironizando com palavrões o eufemismo “melhor idade”, geralmente usado para encobrir o preconceito de uma sociedade que cultua a novidade e despreza a experiência. Estava aprisonando a um padrão cultural que o impedia de enxergar seus recursos e suas chances.
Uma pessoa assim, amarrada ao pelourinho do tempo, jamais decairá com a nobreza de um Ariano Suassuna (evito citar aqui Francisco de Assis que, leproso, morreu cantando, para que não imaginemos que a altivez na debilidade do corpo ou na velhice é atributo exclusivo dos santos). Entre queixas, continuará se escondendo, até o fim, atrás de conceitos consumistas, impedindo o fluir natural e multicor do sopro da vida.
Penso que uma das vantagens mais notórias do envelhecer bem é o resgate da transparência, da autenticidade obscurecida durante anos no jogo de conveniências da população economicamente ativa. A experiência e a maturidade nos trazem um mínimo de segurança para afirmar para nós próprios que máscaras e verniz social são incômodos e que é possível ser nós mesmos, livres da preocupação com aplausos, sem perder o respeito pelas diferenças, e até com um ganho de bom-humor.
Surpreendo-me e divirto-me, hoje em dia, com a minha rigidez nos anos juvenis, com minha preocupação e ansiedade em seguir a cartilha e minha incapacidade de rir de mim mesmo naqueles tempos. Além de ampliar minha visão, a velhice me deixou mais leve. Mas não só a mim, que sigo na planície.
Um dia após a morte de Ariano Suassuna assisti a trechos de suas palestras nos últimos 40 anos e pude constatar: mesmo um gênio, como ele, precisa do tempo para se completar. O velho Ariano tornou-se mais solto e mais autêntico e, sobretudo, bem-humorado. É quando, no palco da vida, o ator (o ser) se impõe ao personagem e o papel cede lugar à missão.

Conectados - e vazios
Em maio, uma pesquisa da seção brasileira do IAB – Interactive Advertising Bureau - trouxe-nos uma notícia otimista: a maioria dos brasileiros urbanos já gastam mais tempo na Internet do que diante da TV. Mais de 40% desse segmento passam pelo menos duas horas por dia navegando na web, lendo emails ou batendo papo em chats. Só 25% usam um tempo equivalente vendo televisão.
Num país onde 80 milhões de habitantes estão conectados à rede mundial de computadores, isso poderia ser o marco de uma virada qualitativa. A TV é um veículo que induz seu usuário a uma atitude passiva, detalhe que é reforçado pelo fato de a maioria dos brasileiros vê na televisão apenas um canal de entretenimento. A net, por sua natureza interativa, tira-nos da inércia, obriga-nos a ler e a tomar decisões diante de seus conteúdos.
Logo, se os brasileiros agora passam mais tempo na Internet isso significa que estamos mais bem informados e críticos, mais conscientes, certo?
Errado!
A ativista Bia Granja, curadora do youPIX e da Campus Party Brasil, focada no estudo do uso da Internet pelos jovens, acaba de escrever um artigo no site da “Galileu” que surpreende meio mundo por seus números devastadores de esperanças:
No Spotify, famoso site de música, 25% das músicas são puladas após 5 segundos! Metade dos usuários não consegue ouvir nenhuma delas sem avançar para o final. No Youtube, a média de tempo assistindo a um vídeo não passa dos 90 segundos.
A autora conclui: “Se a gente não tem paciência para ficar mais de 90 segundos focado em uma atividade que nos dá prazer, o que acontece com o resto das coisas?”
O resto das coisas, certamente, beira a tragédia. Todos os sinais indicam que na net os jovens não conseguem ler qualquer texto integralmente. Limitam-se a ler o título e logo disparam curtidas e comentários, sem ter idéia precisa do que estão aprovando, reprovando ou comentando. Por minha conta e risco, extrapolo a observação de Bia Granja para o universo adulto da Internet, apoiado no que vejo diariamente no Facebook e no Twitter.
Bia cita o caso de um hoax, um boato intencional, envolvendo o ator Selton Melo, que em poucas horas obteve 500 tuítes com o link, 3 mil compartilhamentos no Facebook e 13 mil curtidas e acabou virando notícia (também falsa) no UOL e na TV. Ninguém se ocupou de ler o texto todo e, assim, perceber que aquela era uma história inventada. Por fim, ela atribui tudo isso à ansiedade de querer reagir a todas as informações na velocidade da time line, pois hoje em dia pega mal parecer desinformado.
É esse final que, penso, merece mais atenção. Nosso estilo de vida não criou a ansiedade, mas elevou-a ao cubo e, como resultado, estragamos as chances de viver bem e crescer. Na net, como no resto da vida, nosso foco quantitativo afasta-nos da qualidade e da plenitude. Seguimos vazios, sem conhecer de verdade e sem saborear coisa alguma.
22/07/2014
Em maio, uma pesquisa da seção brasileira do IAB – Interactive Advertising Bureau - trouxe-nos uma notícia otimista: a maioria dos brasileiros urbanos já gastam mais tempo na Internet do que diante da TV. Mais de 40% desse segmento passam pelo menos duas horas por dia navegando na web, lendo emails ou batendo papo em chats. Só 25% usam um tempo equivalente vendo televisão.
Num país onde 80 milhões de habitantes estão conectados à rede mundial de computadores, isso poderia ser o marco de uma virada qualitativa. A TV é um veículo que induz seu usuário a uma atitude passiva, detalhe que é reforçado pelo fato de a maioria dos brasileiros vê na televisão apenas um canal de entretenimento. A net, por sua natureza interativa, tira-nos da inércia, obriga-nos a ler e a tomar decisões diante de seus conteúdos.
Logo, se os brasileiros agora passam mais tempo na Internet isso significa que estamos mais bem informados e críticos, mais conscientes, certo?
Errado!
A ativista Bia Granja, curadora do youPIX e da Campus Party Brasil, focada no estudo do uso da Internet pelos jovens, acaba de escrever um artigo no site da “Galileu” que surpreende meio mundo por seus números devastadores de esperanças:
No Spotify, famoso site de música, 25% das músicas são puladas após 5 segundos! Metade dos usuários não consegue ouvir nenhuma delas sem avançar para o final. No Youtube, a média de tempo assistindo a um vídeo não passa dos 90 segundos.
A autora conclui: “Se a gente não tem paciência para ficar mais de 90 segundos focado em uma atividade que nos dá prazer, o que acontece com o resto das coisas?”
O resto das coisas, certamente, beira a tragédia. Todos os sinais indicam que na net os jovens não conseguem ler qualquer texto integralmente. Limitam-se a ler o título e logo disparam curtidas e comentários, sem ter idéia precisa do que estão aprovando, reprovando ou comentando. Por minha conta e risco, extrapolo a observação de Bia Granja para o universo adulto da Internet, apoiado no que vejo diariamente no Facebook e no Twitter.
Bia cita o caso de um hoax, um boato intencional, envolvendo o ator Selton Melo, que em poucas horas obteve 500 tuítes com o link, 3 mil compartilhamentos no Facebook e 13 mil curtidas e acabou virando notícia (também falsa) no UOL e na TV. Ninguém se ocupou de ler o texto todo e, assim, perceber que aquela era uma história inventada. Por fim, ela atribui tudo isso à ansiedade de querer reagir a todas as informações na velocidade da time line, pois hoje em dia pega mal parecer desinformado.
É esse final que, penso, merece mais atenção. Nosso estilo de vida não criou a ansiedade, mas elevou-a ao cubo e, como resultado, estragamos as chances de viver bem e crescer. Na net, como no resto da vida, nosso foco quantitativo afasta-nos da qualidade e da plenitude. Seguimos vazios, sem conhecer de verdade e sem saborear coisa alguma.

Estamos doentes
Em outubro passado escrevi aqui um texto intitulado “No divã do Facebook”. Na época, eu estava surpreso com o fato de a maior rede social do planeta ter se transformado em um enorme divã, onde as pessoas escancaram emoções e traumas, certamente em busca de algum tipo de alívio ou de ajuda.
Desde então, tenho acompanhado essa terapia grupal com olhos bem atentos e, mesmo não sendo psicanalista, psicólogo ou psiquiatra, arrisco agora um diagnóstico: estamos doentes, muito doentes. Nossas mentes e corações parecem intoxicados pelos gases das emoções mais sombrias e nossa fala transtornada não deixa dúvida de que nos incapacitamos para fruir o melhor da vida.
Perdoem-me os especialistas. Mas não consigo ler de outra forma os sintomas revelados em postagens iradas até com o vento, na insistência em agredir pessoas diretamente ou através de zombarias e, mais recente e mais grave, na disseminação de vídeos bizarros e abomináveis sob o pretexto de piedade ou indignação. Afinal, o que levaria alguém a postar imagens de bebês sendo espancados, crianças mutiladas, animais de estimação decepados, homens se esmurrando, bandidos assaltando e criaturas expostas ao ridículo senão um prazer mórbido diante da dor do próximo, essa forma patológica de alguém lidar com a sua própria dor?
Já não temos nenhuma reserva, nenhum pudor. A ferida está exposta e, como que movidos pela revolta fatal dos suicidas, queremos remexê-la para que sangre e escorra o pus. Não queremos tratá-la, pois, como os viciados, já nos atamos ao que nos destrói pelo laço do prazer – neste caso, o prazer soturno de sofrer e fazer sofrer.
Penso que a legislação em vigor, ainda que defasada em relação às mudanças sociais dos últimos tempos, possui dispositivos que, se aplicados, seriam capazes de inibir e, em alguns casos, punir os responsáveis por tais posts venenosas nas redes sociais. Mas, penso também, só isso não resolveria.
O que assistimos no divã do Facebook é um surto que sinaliza a existência de uma doença crônica, reforçada por toda a sociedade e, principalmente, por suas lideranças e formadores de opinião igualmente em surto de sentimentos e atitudes sombrias. Estes, que fazem do ato de escarafunchar a lama da condição humana o meio para alcançar suas metas de fortuna e poder, através da manipulação das emoções e, sobretudo, do medo, são também signatários das postagens enlouquecidas na Internet.
A crise de morbidez ética e espiritual no Facebook tem discurso idêntico ao dos comunicadores sensacionalistas e irresponsáveis e aos dos políticos e empresários oportunistas, sempre prontos a tirar proveito das misérias humanas e das comoções sociais.
As postagens sombrias nos avisam de que, apesar de nossas conquistas, ainda permanecemos crianças, ignorantes de nós próprios e do que nos rodeia, lambuzadas, por inconsciência, da lama fétida de nossas piores pulsões.
15/07/2014
Em outubro passado escrevi aqui um texto intitulado “No divã do Facebook”. Na época, eu estava surpreso com o fato de a maior rede social do planeta ter se transformado em um enorme divã, onde as pessoas escancaram emoções e traumas, certamente em busca de algum tipo de alívio ou de ajuda.
Desde então, tenho acompanhado essa terapia grupal com olhos bem atentos e, mesmo não sendo psicanalista, psicólogo ou psiquiatra, arrisco agora um diagnóstico: estamos doentes, muito doentes. Nossas mentes e corações parecem intoxicados pelos gases das emoções mais sombrias e nossa fala transtornada não deixa dúvida de que nos incapacitamos para fruir o melhor da vida.
Perdoem-me os especialistas. Mas não consigo ler de outra forma os sintomas revelados em postagens iradas até com o vento, na insistência em agredir pessoas diretamente ou através de zombarias e, mais recente e mais grave, na disseminação de vídeos bizarros e abomináveis sob o pretexto de piedade ou indignação. Afinal, o que levaria alguém a postar imagens de bebês sendo espancados, crianças mutiladas, animais de estimação decepados, homens se esmurrando, bandidos assaltando e criaturas expostas ao ridículo senão um prazer mórbido diante da dor do próximo, essa forma patológica de alguém lidar com a sua própria dor?
Já não temos nenhuma reserva, nenhum pudor. A ferida está exposta e, como que movidos pela revolta fatal dos suicidas, queremos remexê-la para que sangre e escorra o pus. Não queremos tratá-la, pois, como os viciados, já nos atamos ao que nos destrói pelo laço do prazer – neste caso, o prazer soturno de sofrer e fazer sofrer.
Penso que a legislação em vigor, ainda que defasada em relação às mudanças sociais dos últimos tempos, possui dispositivos que, se aplicados, seriam capazes de inibir e, em alguns casos, punir os responsáveis por tais posts venenosas nas redes sociais. Mas, penso também, só isso não resolveria.
O que assistimos no divã do Facebook é um surto que sinaliza a existência de uma doença crônica, reforçada por toda a sociedade e, principalmente, por suas lideranças e formadores de opinião igualmente em surto de sentimentos e atitudes sombrias. Estes, que fazem do ato de escarafunchar a lama da condição humana o meio para alcançar suas metas de fortuna e poder, através da manipulação das emoções e, sobretudo, do medo, são também signatários das postagens enlouquecidas na Internet.
A crise de morbidez ética e espiritual no Facebook tem discurso idêntico ao dos comunicadores sensacionalistas e irresponsáveis e aos dos políticos e empresários oportunistas, sempre prontos a tirar proveito das misérias humanas e das comoções sociais.
As postagens sombrias nos avisam de que, apesar de nossas conquistas, ainda permanecemos crianças, ignorantes de nós próprios e do que nos rodeia, lambuzadas, por inconsciência, da lama fétida de nossas piores pulsões.

Na moral. Que moral?
A algumas horas de nosso desafio nas semifinais da Copa do Mundo, divago inspirado pelas cenas paralelas ao futebol que emergem dos próprios gramados do Mundial.
Morder o adversário pode? Não pode. O uruguaio Suárez levou uma das mais duras punições do mundo do esporte, aplicada pela Fifa, ao reincindir em seu impulso infantil de dominar o oponente com seus dentes afiados.
Parar o avanço do antagonista com uma joelhada pelas costas, traiçoeira e certeira, ao ponto de rachar uma vértebra, pode? Pode, pois o Comitê Disciplinar que se impôs ao árbitro da partida Uruguai x Itália para punir a posteriori – e de modo exemplar – o jogador uruguaio nada viu de anormal ou ilícito nas imagens da agressão do colombiano Zuñiga a Neymar. A Copa atual registra mais quatro casos de fratura de ossos, inclusive um traumatismo craniano leve, sem que ninguém tenha sido punido por isso.
Qual o critério para reações tão diferentes diante de delitos de mesma natureza – a violência no esporte? Talvez se alegue que a agressividade infantil de Suárez estraga o ritual de fair play que se espera dos atletas numa competição esportiva, enquanto a trombada desvastadora de Zuñiga se insere, pela repetição de atos assemelhados na rotina do futebol, no quadro de riscos naturais de um esporte em que se misturam força física, habilidades malabaristas e competitividade guerreira.
Saio dos estádios para as ruas, para as casas.
Homem beijando homem na TV pode? Não pode, diz o informal Comitê de Defesa de nossos costumes. Homem matando homem, depois de agredí-lo e torturá-lo, pode? Claro que pode. Afinal, que graça teriam os filmes e seriados de ação sem socos e tiros, agressões e sangue?
Como justificar tal disparate sem idealizar a moral em seu estágio mais trivial, aquele que normatiza hábitos, inspirado em crenças, e serve de base à constituição e a reforma das leis? Um beijo entre homens afronta um tabu, que certamente nos ajudou em algum momento da história e hoje segue sem serventia, enquanto a agressão de um homem a outro nos parece aceitável em um jogo da vida no qual ferocidade e dominação são regras técnicas e condição para vencer.
Na moral. Que moral? A palavra latina que deu origem a esse termo – mores – é tradução imperfeita do grego ethos, que significa ética e, na Grécia antiga, dizia respeito mais às intenções que motivam os atos humanos que aos costumes, à mera moralidade. Penso que no futebol e no resto da vida perdemos quase que completamente o sentido maior do ethos e nos perdemos na superficialidade opressiva da mores.
São muitas as morais vigentes no mundo e todas elas se alteram ao longo do tempo e das circunstâncias. Só a ética, nos chamando à essência e à nobreza da alma, consegue nos recolocar na trilha de um significado maior para a vida onde, finalmente, o amor – maior que o ethos e a mores – nos torne plenos e serenos.
08/07/2014
A algumas horas de nosso desafio nas semifinais da Copa do Mundo, divago inspirado pelas cenas paralelas ao futebol que emergem dos próprios gramados do Mundial.
Morder o adversário pode? Não pode. O uruguaio Suárez levou uma das mais duras punições do mundo do esporte, aplicada pela Fifa, ao reincindir em seu impulso infantil de dominar o oponente com seus dentes afiados.
Parar o avanço do antagonista com uma joelhada pelas costas, traiçoeira e certeira, ao ponto de rachar uma vértebra, pode? Pode, pois o Comitê Disciplinar que se impôs ao árbitro da partida Uruguai x Itália para punir a posteriori – e de modo exemplar – o jogador uruguaio nada viu de anormal ou ilícito nas imagens da agressão do colombiano Zuñiga a Neymar. A Copa atual registra mais quatro casos de fratura de ossos, inclusive um traumatismo craniano leve, sem que ninguém tenha sido punido por isso.
Qual o critério para reações tão diferentes diante de delitos de mesma natureza – a violência no esporte? Talvez se alegue que a agressividade infantil de Suárez estraga o ritual de fair play que se espera dos atletas numa competição esportiva, enquanto a trombada desvastadora de Zuñiga se insere, pela repetição de atos assemelhados na rotina do futebol, no quadro de riscos naturais de um esporte em que se misturam força física, habilidades malabaristas e competitividade guerreira.
Saio dos estádios para as ruas, para as casas.
Homem beijando homem na TV pode? Não pode, diz o informal Comitê de Defesa de nossos costumes. Homem matando homem, depois de agredí-lo e torturá-lo, pode? Claro que pode. Afinal, que graça teriam os filmes e seriados de ação sem socos e tiros, agressões e sangue?
Como justificar tal disparate sem idealizar a moral em seu estágio mais trivial, aquele que normatiza hábitos, inspirado em crenças, e serve de base à constituição e a reforma das leis? Um beijo entre homens afronta um tabu, que certamente nos ajudou em algum momento da história e hoje segue sem serventia, enquanto a agressão de um homem a outro nos parece aceitável em um jogo da vida no qual ferocidade e dominação são regras técnicas e condição para vencer.
Na moral. Que moral? A palavra latina que deu origem a esse termo – mores – é tradução imperfeita do grego ethos, que significa ética e, na Grécia antiga, dizia respeito mais às intenções que motivam os atos humanos que aos costumes, à mera moralidade. Penso que no futebol e no resto da vida perdemos quase que completamente o sentido maior do ethos e nos perdemos na superficialidade opressiva da mores.
São muitas as morais vigentes no mundo e todas elas se alteram ao longo do tempo e das circunstâncias. Só a ética, nos chamando à essência e à nobreza da alma, consegue nos recolocar na trilha de um significado maior para a vida onde, finalmente, o amor – maior que o ethos e a mores – nos torne plenos e serenos.

Ação, reação, superação
E o Brasil chorou com Júlio César, nosso herói do jogo contra o Chile, no sábado passado, nesta Copa das Copas em nossa casa. De certa forma, todos nos identificamos com a história de superação do goleiro que, finalmente, virou a mesa das cobranças e de seu próprio sentimento de culpa após a falha fatal no jogo contra a Holanda, há quatro anos, na Copa da África do Sul.
Histórias de superação nos chacoalham e, pelo menos por um momento, nos levam a enxergar a capacidade que temos de aprender com nossos erros e, assim, sermos impulsionados para novas conquistas. Diante delas, no entanto, vejo mais.
Um homem ultrapassando seu limite, penso, também pode aclarar em nós a visão da lei natural que estabelece que cada um colhe aquilo que semeia.
Esse automatismo da vida, lastro sobre o qual se apoia a noção refinada de justiça divina, é conhecida no oriente como lei do karma e, entre nós, como lei de causa e efeito. Trata-se de conceitos hoje bastante popularizados, graças à expansão das doutrinas orientais e do Espiritismo e à abordagem do tema no cinema e na televisão, o que não significa que compreendemos em profundidade esse ensinamento.
Karma, para a maioria das pessoas, soa como determinismo rígido, mas essa visão desconsidera o movimento que caracteriza a vida no nível das formas e da dualidade – esse animado “game” concebido pelo Criador onde há abertura aparente para a criatividade e a vontade do jogador. Embora na atemporalidade de Deus tudo já esteja definido (onisciência e onipotência divinas!), desconhecer a existência do jogo e do jogador, no nível do tempo e do espaço, vai contra a proposta de beleza desse espetáculo.
Para explicar como age o karma, mestres hindus recorrem a uma velha analogia na qual um arqueiro atirou uma flecha, tem outra no arco esticado e ainda carrega algumas em sua aljava. Ele nada pode fazer em relação à seta que está no ar (karma maduro, em execução), mas ainda tem domínio sobre a que se encontra no arco (karma acumulado, pronto para ser executado) e, principalmente, sobre as que se encontram na sacola (karma em geração, aqui e agora).
Ou, voltando ao herói de nossa Seleção: Júlio César não pôde evitar as consequências de seu erro em 2010 sobre a Seleção e sobre si mesmo. A flecha fora disparada. Mas, graças à sua escolha e persistência para aprender a partir do próprio erro, evitou a repetição do movimento e reajustou sua carreira pela via mais suave e produtiva, sem o desespero e a mágoa dos derrotados.
É uma chance que a vida dá a cada homem. Se a flecha já está no ar, é preciso acatar e aprender com os seus efeitos. Se está no arco, escolhas de amor e de justiça podem evitar novos estragos e nos redimir. E essas duas circunstâncias, com certeza, nos ensinarão a usar melhor todas as que ainda se encontram na aljava do presente e do futuro.
01/07/2014
E o Brasil chorou com Júlio César, nosso herói do jogo contra o Chile, no sábado passado, nesta Copa das Copas em nossa casa. De certa forma, todos nos identificamos com a história de superação do goleiro que, finalmente, virou a mesa das cobranças e de seu próprio sentimento de culpa após a falha fatal no jogo contra a Holanda, há quatro anos, na Copa da África do Sul.
Histórias de superação nos chacoalham e, pelo menos por um momento, nos levam a enxergar a capacidade que temos de aprender com nossos erros e, assim, sermos impulsionados para novas conquistas. Diante delas, no entanto, vejo mais.
Um homem ultrapassando seu limite, penso, também pode aclarar em nós a visão da lei natural que estabelece que cada um colhe aquilo que semeia.
Esse automatismo da vida, lastro sobre o qual se apoia a noção refinada de justiça divina, é conhecida no oriente como lei do karma e, entre nós, como lei de causa e efeito. Trata-se de conceitos hoje bastante popularizados, graças à expansão das doutrinas orientais e do Espiritismo e à abordagem do tema no cinema e na televisão, o que não significa que compreendemos em profundidade esse ensinamento.
Karma, para a maioria das pessoas, soa como determinismo rígido, mas essa visão desconsidera o movimento que caracteriza a vida no nível das formas e da dualidade – esse animado “game” concebido pelo Criador onde há abertura aparente para a criatividade e a vontade do jogador. Embora na atemporalidade de Deus tudo já esteja definido (onisciência e onipotência divinas!), desconhecer a existência do jogo e do jogador, no nível do tempo e do espaço, vai contra a proposta de beleza desse espetáculo.
Para explicar como age o karma, mestres hindus recorrem a uma velha analogia na qual um arqueiro atirou uma flecha, tem outra no arco esticado e ainda carrega algumas em sua aljava. Ele nada pode fazer em relação à seta que está no ar (karma maduro, em execução), mas ainda tem domínio sobre a que se encontra no arco (karma acumulado, pronto para ser executado) e, principalmente, sobre as que se encontram na sacola (karma em geração, aqui e agora).
Ou, voltando ao herói de nossa Seleção: Júlio César não pôde evitar as consequências de seu erro em 2010 sobre a Seleção e sobre si mesmo. A flecha fora disparada. Mas, graças à sua escolha e persistência para aprender a partir do próprio erro, evitou a repetição do movimento e reajustou sua carreira pela via mais suave e produtiva, sem o desespero e a mágoa dos derrotados.
É uma chance que a vida dá a cada homem. Se a flecha já está no ar, é preciso acatar e aprender com os seus efeitos. Se está no arco, escolhas de amor e de justiça podem evitar novos estragos e nos redimir. E essas duas circunstâncias, com certeza, nos ensinarão a usar melhor todas as que ainda se encontram na aljava do presente e do futuro.

Parceiras para sempre
Há anos não se passa um novembro sem que alguém me convoque para falar sobre a morte. Na verdade, minha “militância” espiritual me leva a falar de morte o ano inteiro, pois não há como abordar a vida sem referir-se ao seu contraponto. Mas novembro, em razão do simbolismo de seu segundo dia, dedicado aos mortos, acaba sendo o período preferencial para essas conversas.
A maioria dos que me ouvem, nessas ocasiões, vem em busca de consolo e esperança, o que é absolutamente humano e natural. Assim como nos comportamos em relação às coisas, queremos que as pessoas que nos fazem bem e nos proporcionam prazer permaneçam eternamente ao nosso lado e, se elas se vão, sofremos. É o nosso jeito de amar a partir de nosso interesse egóico, que não leva em conta os desígnios do universo e as necessidades do outro.
Se essa expectativa – de consolo e esperança apenas – é muito intensa, possivelmente, meus ouvintes se sentem frustrados com o que tenho a dizer sobre a indesejada. Uma necessidade exagerada de consolo ou esperança diante da morte sinaliza uma avaliação desse evento extremamente negativa, do tipo a punição suprema. E isso é o que, penso, deveríamos mudar, com imenso ganho de qualidade em nossa jornada terrena. Diante da morte nem pessimismo e nem otimismo, mas realismo.
Vida e morte são parceiras e complementares. Andam abraçadas e dançam harmoniosamente enquanto nos enredamos nas ilusões do dia a dia. Para que o nosso corpo funcione, é indispensável que nossas células morram e se reciclem. E quando essa renovação declina ou subitamente as células deixam de morrer – como acontece no câncer -, outra vez vemos a vida e a morte em parceria, agora em favor da morte.
A música é feita de silêncio e sons e a vida, de movimento e pausas. A morte é a pausa que o movimento da vida pede para ser retomado em infinita escala de criatividade. O universo inteiro é harmonia (construção) e entropia (desagregação), um circuito eterno e fascinante. Vida e morte são como o dia e a noite, carregados de luz e sombra, calor e frio, a tensão dos contrários necessária à percepção das formas.
Assustamo-nos com a descontinuidade sugerida pela desintegração do corpo porque tememos as pausas, por não compreendê-las. Mas há uma dinâmica nas pausas, elas são uma experiência e não a paralisação. E é assim que, ainda atuantes no corpo, experimentamos a morte no repouso do sono (tão necessário à saúde e à lucidez), nos êxtases e outros tipos de alteração da consciência e até mesmo nas drogas (de um jeito suicida), todos eles estados em que abrimos mão do controle para simplesmente mergulhar no pano de fundo da morte, a escuridão sobre a qual Deus desenha a vida em traços de luz.
Compreender e aceitar a morte é transcender nossa ânsia de controlá-la para, em entrega e gratidão, deixarmo-nos fluir no mistério. E assim, livres do medo, poderemos viver plenamente.
19/11/2013
Há anos não se passa um novembro sem que alguém me convoque para falar sobre a morte. Na verdade, minha “militância” espiritual me leva a falar de morte o ano inteiro, pois não há como abordar a vida sem referir-se ao seu contraponto. Mas novembro, em razão do simbolismo de seu segundo dia, dedicado aos mortos, acaba sendo o período preferencial para essas conversas.
A maioria dos que me ouvem, nessas ocasiões, vem em busca de consolo e esperança, o que é absolutamente humano e natural. Assim como nos comportamos em relação às coisas, queremos que as pessoas que nos fazem bem e nos proporcionam prazer permaneçam eternamente ao nosso lado e, se elas se vão, sofremos. É o nosso jeito de amar a partir de nosso interesse egóico, que não leva em conta os desígnios do universo e as necessidades do outro.
Se essa expectativa – de consolo e esperança apenas – é muito intensa, possivelmente, meus ouvintes se sentem frustrados com o que tenho a dizer sobre a indesejada. Uma necessidade exagerada de consolo ou esperança diante da morte sinaliza uma avaliação desse evento extremamente negativa, do tipo a punição suprema. E isso é o que, penso, deveríamos mudar, com imenso ganho de qualidade em nossa jornada terrena. Diante da morte nem pessimismo e nem otimismo, mas realismo.
Vida e morte são parceiras e complementares. Andam abraçadas e dançam harmoniosamente enquanto nos enredamos nas ilusões do dia a dia. Para que o nosso corpo funcione, é indispensável que nossas células morram e se reciclem. E quando essa renovação declina ou subitamente as células deixam de morrer – como acontece no câncer -, outra vez vemos a vida e a morte em parceria, agora em favor da morte.
A música é feita de silêncio e sons e a vida, de movimento e pausas. A morte é a pausa que o movimento da vida pede para ser retomado em infinita escala de criatividade. O universo inteiro é harmonia (construção) e entropia (desagregação), um circuito eterno e fascinante. Vida e morte são como o dia e a noite, carregados de luz e sombra, calor e frio, a tensão dos contrários necessária à percepção das formas.
Assustamo-nos com a descontinuidade sugerida pela desintegração do corpo porque tememos as pausas, por não compreendê-las. Mas há uma dinâmica nas pausas, elas são uma experiência e não a paralisação. E é assim que, ainda atuantes no corpo, experimentamos a morte no repouso do sono (tão necessário à saúde e à lucidez), nos êxtases e outros tipos de alteração da consciência e até mesmo nas drogas (de um jeito suicida), todos eles estados em que abrimos mão do controle para simplesmente mergulhar no pano de fundo da morte, a escuridão sobre a qual Deus desenha a vida em traços de luz.
Compreender e aceitar a morte é transcender nossa ânsia de controlá-la para, em entrega e gratidão, deixarmo-nos fluir no mistério. E assim, livres do medo, poderemos viver plenamente.

Aproveite o dia
Meses após aposentar-me, em 2006, voltei à Editora Abril para rever alguns amigos. Apesar do estresse comum às Redações, fui recebido com atenção e carinho e logo convidado para almoçar com um pequeno grupo.
Jornalistas são sempre curiosos sobre colegas que largaram a “cachaça” do jornalismo e costumam dizer que farão o mesmo, embora só uns poucos consigam, de fato, sair do “vício”. Eu mesmo fiquei 40 anos nas Redações e só deixei cair o osso depois que um mergulho meditativo mostrou-me novas utilidades para a minha vida. Assim, era natural que, naquela manhã, eu despertasse interesse em colegas incomodados com a rotina desgastante de nossa profissão numa megacidade como São Paulo.
No almoço, um deles, editor de economia, ao saber que eu morava em Natal, foi direto: “Jomar, você tem barco?” Sorri, entendendo que ele me imaginava pilotando uma dessas lanchas que custam fortunas sobre o azul do Atlântico. E a resposta me veio de imediato: “Barco eu não tenho. Tenho o mar”. Se ele entendeu, não sei. Ainda me demorei, explicando minha opção de vida e meus valores, mas vejo agora que poderia ter poupado saliva e sido mais convincente se, na ocasião, tivesse comigo este lindo texto de José Hermógenes, introdutor do Yoga no Brasil:
“Na busca da felicidade, o homem pobre está melhor do que o rico. O homem rico, tendo a posse de muitas coisas, já descobriu que a posse não lhe deu o que andou sempre buscando: a felicidade. Ao contrário, o homem de muitas empresas, é um escravo delas. Para manter o que tem ou manter o ritmo de seu adquirir, perdeu a possibilidade de parar, de repousar, de isolar-se, de meditar, de salvar-se. Para não perder o que conquistou, nunca mais descansará.
“Na busca da felicidade, o homem rico está melhor do que o pobre. O pobre ainda está iludido, supondo que só adquirindo riquezas feliz será. E, nessa ilusão, empenha-se em batalhas ansiosas, querendo amealhar bens, ilusões... A vida para ele se transforma em luta, em busca de recursos dos quais, ele acredita, dependerá ser feliz.
“Desde que saibas gozá-la, a paisagem é tua. Não importa que o cartório diga diferente. Tu, que tens o poder de descobrir magia e beleza, fica sabendo que és dono de todas as serras, dos caminhos ensolarados, dos remansos, dos rios, de todas as plagas, do horizonte, do colorido de todos os crepúsculos, do frescor das madrugadas outonais, de todos os rosais, de pedregulhos, dos arvoredos, dos tabuleiros, das casacatas, do refrigério dos oásis, de todas as paisagens que teus olhos ávidos de poesia vierem a captar.
“Se tens tempo e poesia para sentir a beleza, são teus todos os lugares que te convidem a ficar e contemplar.”
Como escreveu o poeta Horácio, na Roma antiga, “carpe diem” - aproveite o dia. A vida é só dádivas para quem consegue observá-la e fruí-la.
12/11/2013
Meses após aposentar-me, em 2006, voltei à Editora Abril para rever alguns amigos. Apesar do estresse comum às Redações, fui recebido com atenção e carinho e logo convidado para almoçar com um pequeno grupo.
Jornalistas são sempre curiosos sobre colegas que largaram a “cachaça” do jornalismo e costumam dizer que farão o mesmo, embora só uns poucos consigam, de fato, sair do “vício”. Eu mesmo fiquei 40 anos nas Redações e só deixei cair o osso depois que um mergulho meditativo mostrou-me novas utilidades para a minha vida. Assim, era natural que, naquela manhã, eu despertasse interesse em colegas incomodados com a rotina desgastante de nossa profissão numa megacidade como São Paulo.
No almoço, um deles, editor de economia, ao saber que eu morava em Natal, foi direto: “Jomar, você tem barco?” Sorri, entendendo que ele me imaginava pilotando uma dessas lanchas que custam fortunas sobre o azul do Atlântico. E a resposta me veio de imediato: “Barco eu não tenho. Tenho o mar”. Se ele entendeu, não sei. Ainda me demorei, explicando minha opção de vida e meus valores, mas vejo agora que poderia ter poupado saliva e sido mais convincente se, na ocasião, tivesse comigo este lindo texto de José Hermógenes, introdutor do Yoga no Brasil:
“Na busca da felicidade, o homem pobre está melhor do que o rico. O homem rico, tendo a posse de muitas coisas, já descobriu que a posse não lhe deu o que andou sempre buscando: a felicidade. Ao contrário, o homem de muitas empresas, é um escravo delas. Para manter o que tem ou manter o ritmo de seu adquirir, perdeu a possibilidade de parar, de repousar, de isolar-se, de meditar, de salvar-se. Para não perder o que conquistou, nunca mais descansará.
“Na busca da felicidade, o homem rico está melhor do que o pobre. O pobre ainda está iludido, supondo que só adquirindo riquezas feliz será. E, nessa ilusão, empenha-se em batalhas ansiosas, querendo amealhar bens, ilusões... A vida para ele se transforma em luta, em busca de recursos dos quais, ele acredita, dependerá ser feliz.
“Desde que saibas gozá-la, a paisagem é tua. Não importa que o cartório diga diferente. Tu, que tens o poder de descobrir magia e beleza, fica sabendo que és dono de todas as serras, dos caminhos ensolarados, dos remansos, dos rios, de todas as plagas, do horizonte, do colorido de todos os crepúsculos, do frescor das madrugadas outonais, de todos os rosais, de pedregulhos, dos arvoredos, dos tabuleiros, das casacatas, do refrigério dos oásis, de todas as paisagens que teus olhos ávidos de poesia vierem a captar.
“Se tens tempo e poesia para sentir a beleza, são teus todos os lugares que te convidem a ficar e contemplar.”
Como escreveu o poeta Horácio, na Roma antiga, “carpe diem” - aproveite o dia. A vida é só dádivas para quem consegue observá-la e fruí-la.

Os cachorros não sabem
Meu “personal philosopher”, minha netinha do meio,Yzabelle, não para de me surpreender. As crianças são especialistas em demolir nossas certezas, salvando-nos da petrificação. Ainda livres de condicionamentos e preconceitos, conseguem ver aquilo que nossas mentes com viseiras já nos deixam perceber. Seu método de nos acordar consiste justamente em abalar a estrutura lógica e complicada de nossos raciocínios, devolvendo-nos à simplicidade e ao frescor da vida.
Preciso das crianças – e, um pouco menos, dos jovens – para envelhecer saudável, livrando-me da amargura dos que se enjaularam em suas verdades.
Pois bem. O feriadão passado encheu minha casa de filhos, netos, cachorros e barulho e, como sempre acontece nessas ocasiões, num dado momento, travesti-me de sábio para explicar aos netinhos como funciona nosso mundo civilizado e high-tech. Entre brincadeiras, desandei a falar. Conceitos, regras, obrigações... Meu discurso já estava inflamado quando minha filósofa preferida, fazendo pose e olhando em direção aos animais que rolavam no chão, atalhou-me: “Vôri, os cachorros não sabem disso...” Assim mesmo, com reticências e suave ironia que logo estancaram minha aula empolada.
Ora, como não pensei nisso antes? Os cachorros não sabiam o que eu falava, nada daquilo lhes interessava e, no entanto, estavam ali, serelepes e contentes, celebrando o presente sem dar ou pedir explicações, curtindo a vida em seu nível.
Eureka! Mas para entender isso é necessário romper a lógica de todo um sistema de crenças. Afinal, poderiam os cachorros nos ensinar alguma coisa? Nosso modelo antropocêntrico e - apesar de tudo que conhecemos sobre o cosmo - ainda geocêntrico diz que não.
Como no passado, a Terra nos parece o centro do universo e o homem, o propósito máximo da criação. É o nosso álibi para nos imaginarmos separados da natureza e habilitados, por mandado divino, a subjugá-la e a explorá-la apenas movidos por nossos caprichos. Não importa se, à maneira de qualquer vício, tal voracidade seja também o nosso suicídio lento e gradual. Nossas mentes bloqueadas por pensamentos e fórmulas não nos deixam ver o óbvio.
Cachorros não podem ir à Lua (ainda que tenham audição e olfato mais apurados que nós) nem conseguem produzir alimentos para preservar sua própria espécie (ainda que nós, autosuficientes, releguemos à fome mais de 1 bilhão de humanos por puro egoísmo). Suas vidas em parte dependem de nós e se complicam com a nossa interferência (impondo-lhes necessidades que jamais tiveram). Mas cachorros, como os pássaros e os lírios do campo do Sermão da Montanha, podem nos ensinar sobre a providência universal e os ciclos da vida, ajudando-nos a harmonizar nossas conquistas evolutivas com o ritmo da grande teia, da qual somos parte. Ínfima e gloriosa parte.
05/11/2013
Meu “personal philosopher”, minha netinha do meio,Yzabelle, não para de me surpreender. As crianças são especialistas em demolir nossas certezas, salvando-nos da petrificação. Ainda livres de condicionamentos e preconceitos, conseguem ver aquilo que nossas mentes com viseiras já nos deixam perceber. Seu método de nos acordar consiste justamente em abalar a estrutura lógica e complicada de nossos raciocínios, devolvendo-nos à simplicidade e ao frescor da vida.
Preciso das crianças – e, um pouco menos, dos jovens – para envelhecer saudável, livrando-me da amargura dos que se enjaularam em suas verdades.
Pois bem. O feriadão passado encheu minha casa de filhos, netos, cachorros e barulho e, como sempre acontece nessas ocasiões, num dado momento, travesti-me de sábio para explicar aos netinhos como funciona nosso mundo civilizado e high-tech. Entre brincadeiras, desandei a falar. Conceitos, regras, obrigações... Meu discurso já estava inflamado quando minha filósofa preferida, fazendo pose e olhando em direção aos animais que rolavam no chão, atalhou-me: “Vôri, os cachorros não sabem disso...” Assim mesmo, com reticências e suave ironia que logo estancaram minha aula empolada.
Ora, como não pensei nisso antes? Os cachorros não sabiam o que eu falava, nada daquilo lhes interessava e, no entanto, estavam ali, serelepes e contentes, celebrando o presente sem dar ou pedir explicações, curtindo a vida em seu nível.
Eureka! Mas para entender isso é necessário romper a lógica de todo um sistema de crenças. Afinal, poderiam os cachorros nos ensinar alguma coisa? Nosso modelo antropocêntrico e - apesar de tudo que conhecemos sobre o cosmo - ainda geocêntrico diz que não.
Como no passado, a Terra nos parece o centro do universo e o homem, o propósito máximo da criação. É o nosso álibi para nos imaginarmos separados da natureza e habilitados, por mandado divino, a subjugá-la e a explorá-la apenas movidos por nossos caprichos. Não importa se, à maneira de qualquer vício, tal voracidade seja também o nosso suicídio lento e gradual. Nossas mentes bloqueadas por pensamentos e fórmulas não nos deixam ver o óbvio.
Cachorros não podem ir à Lua (ainda que tenham audição e olfato mais apurados que nós) nem conseguem produzir alimentos para preservar sua própria espécie (ainda que nós, autosuficientes, releguemos à fome mais de 1 bilhão de humanos por puro egoísmo). Suas vidas em parte dependem de nós e se complicam com a nossa interferência (impondo-lhes necessidades que jamais tiveram). Mas cachorros, como os pássaros e os lírios do campo do Sermão da Montanha, podem nos ensinar sobre a providência universal e os ciclos da vida, ajudando-nos a harmonizar nossas conquistas evolutivas com o ritmo da grande teia, da qual somos parte. Ínfima e gloriosa parte.

No divã do Facebook
Para onde vão os posts de uma rede social depois que seus usuários resolvem abandoná-la ou trocá-la por outra com novos atrativos? A julgar pelo que aconteceu ao falecido Orkut, eles são simplesmente deletados, ainda que, depois de Edward Snowden, sempre ocorra a suspeita de que continuem ativos em algum computador da NSA.
Se é assim que acontece, só nos resta lamentar. Destruir os conteúdos das redes é rasgar o melhor retrato do homem e de suas relações em nossa era, imagem autêntica em suas verdades e mentiras.
Em nenhum outro período da história tanta gente, de níveis sociais e intelectuais tão diferentes, esteve tão disposta a registrar emoções e opiniões, na tentativa de romper o círculo da solidão e obter afeto ou reconhecimento. E se é verdade que as redes são incapazes de resolver, por si mesmas, o drama do vazio existencial e da carência afetiva, não se pode negar que funcionam como divãs virtuais onde a maioria dos usuários acaba expondo, de modo explícito ou por associação, seus dramas e carências.
O divã do Facebook, o mais frequentado, é emblemático. Não há foto mais acabada do individualismo e do materialismo da cultura vigente, e de seus efeitos sobre os indivíduos, do que a do Face.
Ali, o umbigo é o centro do universo. Nossos egos inflados e inseguros ardem na ansiedade de convencerem o mundo de nossa importância, transformando atos corriqueiros em eventos especiais (Entenda: tudo na vida é dádiva e merece celebração. É o jeito e a motivação que nos movem que corrompem esse momento). Ali, perdemos o senso de moderação, entupindo as timelines com mensagens repetitivas, informações não checadas, boatos irresponsáveis, fraudes literárias, críticas sem fundamento e grosserias rasteiras na suposição equivocada de que vale tudo na busca de um feedback que reafirme nossa existência. Ali, enfim, com clareza ou disfarce, destilamos nossas mágoas e rancores, exibindo o nosso lado vítima – o papel preferencial da maioria no palco da vida -, enquanto alfinetamos supostos responsáveis por nossas frustrações.
O Facebook nos deixa felizes? Uma pesquisa recente do psicólogo Ethan Kross, da Universidade de Michigan (EUA), afirma que não. Ao contrário, o estudo mostrou que pessoas que acessam intensivamente a rede ficam mais tristes e ansiosas ao término de cada sessão.
Palmas para Kross e outros pesquisadores que, em outros estudos, chegaram à mesma conclusão e até à suposição de que um dos motivos para esse final deprê é a velha e conhecida inveja, excitada pelas comparações entre os nossos e os posts dos outros. Mas quem precisa de pesquisa para constatar o óbvio?
Dar corda à insegurança do ego e extravasar mágoas podem “aliviar” temporariamente as tensões de um mundo íntimo conflituoso. Isto é catarse, que não evita a recorrência dos sintomas, em razão da continuidade de suas causas. Uma mudança de estágio, no entanto, sempre pedirá mais que a explosão de sentimentos.
No divã real e, sobretudo, na introspecção que nos leva ao autoconhecimento, a libertação das velhas algemas só ocorre quando somos capazes de encará-las e reprocessá-las no nível transpessoal, no qual a condição humana é vista e entendida além da janela estreita do ego e suas paixões. E isso não depende do Facebook.
29/10/2013
Para onde vão os posts de uma rede social depois que seus usuários resolvem abandoná-la ou trocá-la por outra com novos atrativos? A julgar pelo que aconteceu ao falecido Orkut, eles são simplesmente deletados, ainda que, depois de Edward Snowden, sempre ocorra a suspeita de que continuem ativos em algum computador da NSA.
Se é assim que acontece, só nos resta lamentar. Destruir os conteúdos das redes é rasgar o melhor retrato do homem e de suas relações em nossa era, imagem autêntica em suas verdades e mentiras.
Em nenhum outro período da história tanta gente, de níveis sociais e intelectuais tão diferentes, esteve tão disposta a registrar emoções e opiniões, na tentativa de romper o círculo da solidão e obter afeto ou reconhecimento. E se é verdade que as redes são incapazes de resolver, por si mesmas, o drama do vazio existencial e da carência afetiva, não se pode negar que funcionam como divãs virtuais onde a maioria dos usuários acaba expondo, de modo explícito ou por associação, seus dramas e carências.
O divã do Facebook, o mais frequentado, é emblemático. Não há foto mais acabada do individualismo e do materialismo da cultura vigente, e de seus efeitos sobre os indivíduos, do que a do Face.
Ali, o umbigo é o centro do universo. Nossos egos inflados e inseguros ardem na ansiedade de convencerem o mundo de nossa importância, transformando atos corriqueiros em eventos especiais (Entenda: tudo na vida é dádiva e merece celebração. É o jeito e a motivação que nos movem que corrompem esse momento). Ali, perdemos o senso de moderação, entupindo as timelines com mensagens repetitivas, informações não checadas, boatos irresponsáveis, fraudes literárias, críticas sem fundamento e grosserias rasteiras na suposição equivocada de que vale tudo na busca de um feedback que reafirme nossa existência. Ali, enfim, com clareza ou disfarce, destilamos nossas mágoas e rancores, exibindo o nosso lado vítima – o papel preferencial da maioria no palco da vida -, enquanto alfinetamos supostos responsáveis por nossas frustrações.
O Facebook nos deixa felizes? Uma pesquisa recente do psicólogo Ethan Kross, da Universidade de Michigan (EUA), afirma que não. Ao contrário, o estudo mostrou que pessoas que acessam intensivamente a rede ficam mais tristes e ansiosas ao término de cada sessão.
Palmas para Kross e outros pesquisadores que, em outros estudos, chegaram à mesma conclusão e até à suposição de que um dos motivos para esse final deprê é a velha e conhecida inveja, excitada pelas comparações entre os nossos e os posts dos outros. Mas quem precisa de pesquisa para constatar o óbvio?
Dar corda à insegurança do ego e extravasar mágoas podem “aliviar” temporariamente as tensões de um mundo íntimo conflituoso. Isto é catarse, que não evita a recorrência dos sintomas, em razão da continuidade de suas causas. Uma mudança de estágio, no entanto, sempre pedirá mais que a explosão de sentimentos.
No divã real e, sobretudo, na introspecção que nos leva ao autoconhecimento, a libertação das velhas algemas só ocorre quando somos capazes de encará-las e reprocessá-las no nível transpessoal, no qual a condição humana é vista e entendida além da janela estreita do ego e suas paixões. E isso não depende do Facebook.

O real e as "verdades"
Na Antiguidade e, sobretudo, na Idade de Média todo poder e toda verdade emanavam de Deus. É uma assertiva que, do ponto de vista da filosofia espiritualista, continua valendo hoje, pois nada existe fora de Deus, a causalidade absoluta. A História, porém, mostra que mesmo as ideias mais sensatas e sublimes podem virar instrumentos de manipulação e dominação sob o império das paixões humanas. Em nome de Deus multidões foram subjugadas e o conhecimento amordaçado durante séculos até que o Renascimento quinhentista resgatasse o humanismo e reinventasse o jeito de o homem investigar a natureza, agora através dos sentidos na sistematização do método empírico.
Aos poucos, pelo menos no Ocidente, declinaram os governos teocráticos e as legislações baseadas em postulados religiosos, com grande avanço da liberdade, das relações humanas e da justiça social. Mas, outra vez, as paixões e os interesses temporais improvisaram ídolos que, como os do passado, servem ao propósito de dominação, agora em meio à treva de um fanatismo intelecto-pragmatista.
É esse o contexto no qual cultuamos a “deusa” Ciência, subvertendo os seus valores – a exemplo dos religiosos que traem a essência do divino, ao reduzí-lo aos seus caprichos -, seja no ambiente fundamentalista de academias monopolizadas por materialistas militantes e excludentes ou no dia a dia de uma máquina de consumo que justifica seu apetite de ganhos com “pesquisas” e “descobertas”.
Os mais pobres e os mais compulsivos são as maiores vítimas dessa situação. Já não se diz “o padre falou”, “o padre mandou”, contudo, se obedece cegamente ao que “o médico receitou”, “o psicólogo disse” e, por extensão, a tudo o que um exército de profissionais e de meros palpiteiros “determinam”, principalmente através da televisão, esse oráculo das massas vazias de sentido e de disposição crítica.
A verdade é o que é. É o real. O resto é percepção fragmentada e condicionada daquilo que é, estuário da imaginação e da reflexão a partir de crenças atávicas ou recentes que influenciam, inclusive, a experiência dos sentidos e, consequentemente, a ciência que fazemos.
É tão questionável aceitar tudo o que nos chega em nome de Deus quanto o que nos entregam em nome da Ciência. Toda teoria tem prazo de validade.
A esse respeito, penso, o melhor é formar com Stephen Hawking, talvez o maior físico da atualidade, em seu livro “O Universo Numa Casca de Noz”. Adepto do positivismo do filósofo Karl Popper, Hawking admite: “Uma teoria científica é um modelo matemático que descreve e codifica as observações que fazemos. Uma boa teoria descreverá uma vasta série de fenômenos, com base em uns poucos postulados simples, e fará previsões que podem ser testadas. Se as previsões concordam com as observações, a teoria sobrevive ‘àquele’ teste, embora nunca se possa provar que esteja correta”.
22/10/2013
Na Antiguidade e, sobretudo, na Idade de Média todo poder e toda verdade emanavam de Deus. É uma assertiva que, do ponto de vista da filosofia espiritualista, continua valendo hoje, pois nada existe fora de Deus, a causalidade absoluta. A História, porém, mostra que mesmo as ideias mais sensatas e sublimes podem virar instrumentos de manipulação e dominação sob o império das paixões humanas. Em nome de Deus multidões foram subjugadas e o conhecimento amordaçado durante séculos até que o Renascimento quinhentista resgatasse o humanismo e reinventasse o jeito de o homem investigar a natureza, agora através dos sentidos na sistematização do método empírico.
Aos poucos, pelo menos no Ocidente, declinaram os governos teocráticos e as legislações baseadas em postulados religiosos, com grande avanço da liberdade, das relações humanas e da justiça social. Mas, outra vez, as paixões e os interesses temporais improvisaram ídolos que, como os do passado, servem ao propósito de dominação, agora em meio à treva de um fanatismo intelecto-pragmatista.
É esse o contexto no qual cultuamos a “deusa” Ciência, subvertendo os seus valores – a exemplo dos religiosos que traem a essência do divino, ao reduzí-lo aos seus caprichos -, seja no ambiente fundamentalista de academias monopolizadas por materialistas militantes e excludentes ou no dia a dia de uma máquina de consumo que justifica seu apetite de ganhos com “pesquisas” e “descobertas”.
Os mais pobres e os mais compulsivos são as maiores vítimas dessa situação. Já não se diz “o padre falou”, “o padre mandou”, contudo, se obedece cegamente ao que “o médico receitou”, “o psicólogo disse” e, por extensão, a tudo o que um exército de profissionais e de meros palpiteiros “determinam”, principalmente através da televisão, esse oráculo das massas vazias de sentido e de disposição crítica.
A verdade é o que é. É o real. O resto é percepção fragmentada e condicionada daquilo que é, estuário da imaginação e da reflexão a partir de crenças atávicas ou recentes que influenciam, inclusive, a experiência dos sentidos e, consequentemente, a ciência que fazemos.
É tão questionável aceitar tudo o que nos chega em nome de Deus quanto o que nos entregam em nome da Ciência. Toda teoria tem prazo de validade.
A esse respeito, penso, o melhor é formar com Stephen Hawking, talvez o maior físico da atualidade, em seu livro “O Universo Numa Casca de Noz”. Adepto do positivismo do filósofo Karl Popper, Hawking admite: “Uma teoria científica é um modelo matemático que descreve e codifica as observações que fazemos. Uma boa teoria descreverá uma vasta série de fenômenos, com base em uns poucos postulados simples, e fará previsões que podem ser testadas. Se as previsões concordam com as observações, a teoria sobrevive ‘àquele’ teste, embora nunca se possa provar que esteja correta”.

Ser ou ter? Eis a questão
Num mundo onde os sonhos se traduzem em consumo e os sentidos e valores emergem do mercado, parece loucura o estilo de vida “largadão” de sábios e místicos sintetizado por Jesus no Sermão da Montanha: “Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado”.
Ser ou ter? Eis um dilema que afronta o senso comum, embora compreensível na relação complementar de seus termos polarizados. Optar por ser não exclui o ter, mas nos coloca diante da dúvida e da possibilidade, às vezes assustadora, de escolher o que ter e o que não ter.
Qual é a minha necessidade? O que é real e o que é imaginário por trás do meu impulso para possuir? Não é possível fruir o presente, libertando-se da distração torturante do futuro e sua permanente carga de medo e ansiedade?
Um conto do século 18, de autoria do rabino Nachman de Bratslav, transcrito no livro “Ter ou não ter, eis a questão!”, do também rabino Nilton Bonder – e aqui resumido ao extremo -, ajuda-nos a compreender o tema:
Um rei entediado decide caminhar pelo seu reino, travestido de vassalo. Encontra um homem cantarolando, feliz, e ao saber de que se trata de um sapateiro que trabalha na rua, indaga: “Você consegue suficiente dinheiro para se manter?” O homem responde: “Ganho a cada dia o suficiente para o sustento daquele dia”. O rei comenta: “Mas você não teme que um dia não tenha o suficiente e vá ficar com fome?”. Diz o sapateiro: “Abençoado o Criador, dia a dia”.
De volta ao palácio, o rei decide pôr à prova a filosofia do pobre homem. Baixa um édito segundo o qual todo sapateiro de rua deve ter uma licença que custa 50 peças de ouro e, no dia seguinte, retorna ao passeio. Mais vez encontra o sapateiro feliz e cantarolante. “Meu amigo, soube do édito. Como você conseguiu comer hoje?”, diz o rei. “Tornei-me lenhador. Há muita gente interessada em comprar galhos. Abençoado é o Eterno, dia a dia”, responde o homem.
O rei, perturbado, decide que todo catador de galhos seja obrigado a servir à Guarda Real durante 40 dias sem receber salário. Mas no passeio seguinte torna a encontrar o mesmo homem, alegre e cantarolante. “E agora, como você sobrevive?”, diz o rei. O sapateiro então lhe conta que vendera a lâmina de sua espada de guarda real ao ferreiro, substituindo-a por uma de madeira, que permanecia oculta na bainha.
O rei, perplexo, volta ao palácio e ordena ao chefe da Guarda que dê ao novo soldado a missão de decapitar um homem inocente. Ao ser convocado, o sapateiro hesita, diz que é da paz, mas temendo morrer, decide obedecer ao chefe. Antes de decepar a cabeça do prisioneiro, no entanto, ele se dirige à multidão: “Deus é minha testemunha. Não sou assassino”, diz. “ Se este homem é mesmo culpado, que a espada seja como sempre. Se for inocente, que se transforme em madeira”. Desembainhou a espada e a multidão, surpresa, prostou-se ao chão. Um milagre acontecera.
O rei, que tudo observava, vai até o sapateiro, revela ser ele o homem que o abordara nos últimos dias com questões sobre a sua sobrevivência e, tomando-o pela mão, convida-o para morar no palácio e ser um de seus conselheiros.
Bom, o conto termina aqui, mas outras possibilidades surgiriam do fato de o sapateiro aceitar ou não o convite do rei.
15/10/2013
Num mundo onde os sonhos se traduzem em consumo e os sentidos e valores emergem do mercado, parece loucura o estilo de vida “largadão” de sábios e místicos sintetizado por Jesus no Sermão da Montanha: “Não vos preocupeis com o dia de amanhã. A cada dia basta o seu cuidado”.
Ser ou ter? Eis um dilema que afronta o senso comum, embora compreensível na relação complementar de seus termos polarizados. Optar por ser não exclui o ter, mas nos coloca diante da dúvida e da possibilidade, às vezes assustadora, de escolher o que ter e o que não ter.
Qual é a minha necessidade? O que é real e o que é imaginário por trás do meu impulso para possuir? Não é possível fruir o presente, libertando-se da distração torturante do futuro e sua permanente carga de medo e ansiedade?
Um conto do século 18, de autoria do rabino Nachman de Bratslav, transcrito no livro “Ter ou não ter, eis a questão!”, do também rabino Nilton Bonder – e aqui resumido ao extremo -, ajuda-nos a compreender o tema:
Um rei entediado decide caminhar pelo seu reino, travestido de vassalo. Encontra um homem cantarolando, feliz, e ao saber de que se trata de um sapateiro que trabalha na rua, indaga: “Você consegue suficiente dinheiro para se manter?” O homem responde: “Ganho a cada dia o suficiente para o sustento daquele dia”. O rei comenta: “Mas você não teme que um dia não tenha o suficiente e vá ficar com fome?”. Diz o sapateiro: “Abençoado o Criador, dia a dia”.
De volta ao palácio, o rei decide pôr à prova a filosofia do pobre homem. Baixa um édito segundo o qual todo sapateiro de rua deve ter uma licença que custa 50 peças de ouro e, no dia seguinte, retorna ao passeio. Mais vez encontra o sapateiro feliz e cantarolante. “Meu amigo, soube do édito. Como você conseguiu comer hoje?”, diz o rei. “Tornei-me lenhador. Há muita gente interessada em comprar galhos. Abençoado é o Eterno, dia a dia”, responde o homem.
O rei, perturbado, decide que todo catador de galhos seja obrigado a servir à Guarda Real durante 40 dias sem receber salário. Mas no passeio seguinte torna a encontrar o mesmo homem, alegre e cantarolante. “E agora, como você sobrevive?”, diz o rei. O sapateiro então lhe conta que vendera a lâmina de sua espada de guarda real ao ferreiro, substituindo-a por uma de madeira, que permanecia oculta na bainha.
O rei, perplexo, volta ao palácio e ordena ao chefe da Guarda que dê ao novo soldado a missão de decapitar um homem inocente. Ao ser convocado, o sapateiro hesita, diz que é da paz, mas temendo morrer, decide obedecer ao chefe. Antes de decepar a cabeça do prisioneiro, no entanto, ele se dirige à multidão: “Deus é minha testemunha. Não sou assassino”, diz. “ Se este homem é mesmo culpado, que a espada seja como sempre. Se for inocente, que se transforme em madeira”. Desembainhou a espada e a multidão, surpresa, prostou-se ao chão. Um milagre acontecera.
O rei, que tudo observava, vai até o sapateiro, revela ser ele o homem que o abordara nos últimos dias com questões sobre a sua sobrevivência e, tomando-o pela mão, convida-o para morar no palácio e ser um de seus conselheiros.
Bom, o conto termina aqui, mas outras possibilidades surgiriam do fato de o sapateiro aceitar ou não o convite do rei.

Amar é desaparecer
O que é o amor?
Não há pergunta, ou questão filosófica, mais central e mais complicada em nossas vidas. Até aqui usamos milhões de toneladas de papel na vã tentativa de defini-lo e entendê-lo. Daqui em diante, certamente mobilizaremos trilhões de gigabites para acomodar tudo o que continuaremos a dizer sobre ele, sem que nenhum conceito nos salve da incompletude das palavras.
E, no entanto, lá no fundo da alma, na intensidade da contemplação e na segurança da experiência, algo continua a nos lembrar que só o amor, esse doce mistério, é que justifica a vida, tornando-a amável e gloriosa.
Desgastada pelo uso inadequado, ao sabor das emoções e até dos interesses sórdidos, a palavra amor tem múltiplos significados. Quer dizer afeição, vínculo, compaixão, misericórdia, atração, apetite, desejo, paixão, libido e por aí vai. Sob a inspiração utilitarista, quer dizer também conquista, troféu de sucesso pessoal que fazemos questão de exibir para aplacar a nossa insegurança.
Nada disso responde ao desafio proposto no início deste texto.
Em seu livro Apresentação da Filosofia, o filósofo André Comte-Sponville, após elaborar sobre a tripla visão do amor na civilização greco-romana, assim define cada faceta do indefinível. Eros, marca do agonia dos amantes, é o amor que só sabe gozar ou sofrer, possuir ou perder. Philia, presente no contentamento dos amigos, é o amor que se regozija e compartilha, querendo bem a quem nos faz bem. E Ágape, o amor incondicional, conceito adicionado pelo pensamento e, sobretudo, pela prática cristã nos tempos apostólicos, é o amor que aceita e protege, que dá e se entrega, que nem precisa mais ser amado.
Numa visão linear da vida, talvez Eros, Philia e Ágape mostrem-se como estágios ascendentes de um processo de refinamento em meio ao movimento incessante a que chamamos evolução. Numa perspectiva cíclica, os três aspectos amorosos talvez nos remetam à dualidade própria do mundo das formas, onde cada coisa existe e é percebida em função de seu oposto.
Penso que o amor, indefinível, só pode ser compreendido além da forma. E aí, talvez, a palavra que mais nos aproxime de seu sentido seja aceitação. Aceitação daquilo que é. Aceitação que é seguida pela rendição, a entrega incondicional à vida, chave de nossa libertação das aflições do ego.
Mas como explicar isso sem cair em verborragia?
No romance O Pobre de Deus, uma versão sobre a vida de São Francisco de Assis escrita por Nikos Kazantzakis (autor de Zorba, o Grego), o trecho de um diálogo resolve esse dilema:
- O que é o amor, irmãos? É mais que compaixão e bondade, porque na compaixão há duas facções: o que sofre e o que se compadece. Na bondade é a mesma coisa: o que dá e o que recebe. No amor, porém, há apenas uma: as duas partes se fundem numa única e nunca se separam. O eu e o tu desaparecem, porque amar significa desaparecer.
08/10/2013
O que é o amor?
Não há pergunta, ou questão filosófica, mais central e mais complicada em nossas vidas. Até aqui usamos milhões de toneladas de papel na vã tentativa de defini-lo e entendê-lo. Daqui em diante, certamente mobilizaremos trilhões de gigabites para acomodar tudo o que continuaremos a dizer sobre ele, sem que nenhum conceito nos salve da incompletude das palavras.
E, no entanto, lá no fundo da alma, na intensidade da contemplação e na segurança da experiência, algo continua a nos lembrar que só o amor, esse doce mistério, é que justifica a vida, tornando-a amável e gloriosa.
Desgastada pelo uso inadequado, ao sabor das emoções e até dos interesses sórdidos, a palavra amor tem múltiplos significados. Quer dizer afeição, vínculo, compaixão, misericórdia, atração, apetite, desejo, paixão, libido e por aí vai. Sob a inspiração utilitarista, quer dizer também conquista, troféu de sucesso pessoal que fazemos questão de exibir para aplacar a nossa insegurança.
Nada disso responde ao desafio proposto no início deste texto.
Em seu livro Apresentação da Filosofia, o filósofo André Comte-Sponville, após elaborar sobre a tripla visão do amor na civilização greco-romana, assim define cada faceta do indefinível. Eros, marca do agonia dos amantes, é o amor que só sabe gozar ou sofrer, possuir ou perder. Philia, presente no contentamento dos amigos, é o amor que se regozija e compartilha, querendo bem a quem nos faz bem. E Ágape, o amor incondicional, conceito adicionado pelo pensamento e, sobretudo, pela prática cristã nos tempos apostólicos, é o amor que aceita e protege, que dá e se entrega, que nem precisa mais ser amado.
Numa visão linear da vida, talvez Eros, Philia e Ágape mostrem-se como estágios ascendentes de um processo de refinamento em meio ao movimento incessante a que chamamos evolução. Numa perspectiva cíclica, os três aspectos amorosos talvez nos remetam à dualidade própria do mundo das formas, onde cada coisa existe e é percebida em função de seu oposto.
Penso que o amor, indefinível, só pode ser compreendido além da forma. E aí, talvez, a palavra que mais nos aproxime de seu sentido seja aceitação. Aceitação daquilo que é. Aceitação que é seguida pela rendição, a entrega incondicional à vida, chave de nossa libertação das aflições do ego.
Mas como explicar isso sem cair em verborragia?
No romance O Pobre de Deus, uma versão sobre a vida de São Francisco de Assis escrita por Nikos Kazantzakis (autor de Zorba, o Grego), o trecho de um diálogo resolve esse dilema:
- O que é o amor, irmãos? É mais que compaixão e bondade, porque na compaixão há duas facções: o que sofre e o que se compadece. Na bondade é a mesma coisa: o que dá e o que recebe. No amor, porém, há apenas uma: as duas partes se fundem numa única e nunca se separam. O eu e o tu desaparecem, porque amar significa desaparecer.

Outro lado do caos na saúde
Há dois lados na questão rotulada de caos na saúde.
O primeiro é aquele apresentado pelos meios de comunicação e confirmado diariamente pelos usuários dos sistemas público e privado.
No SUS faltam médicos, enfermeiros, instalações, equipamentos, remédios e, sobretudo, profissionalismo, atenção, cuidado e respeito para com as pessoas. Neste caso, os mais pobres são os mais prejudicados, embora contribuam para a manter o sistema mediante o pagamento de impostos diretos e indiretos.
No sistema privado, a classe média padece com a ganância dos planos de saúde de segunda linha, as filas, as restrições e os profissionais despreparados enquanto finge desfrutar de um serviço melhor pelo simples fato de não se encontrar na vala comum dos indigentes. (E, lá em cima, ricos e poderosos continuam torrando reais em medicina de ponta, sofisticada, o que não os livra da indigência maior da dependência a remédios e procedimentos tecnológicos).
Aí está o horizonte, o limite de nossa visão sobre a questão de saúde sob uma cultura que desconsidera a totalidade do ser e sua integração na natureza, perdendo-se em abordagens mecânicas das partes e na supervalorização das ameaças externas. Não poderia haver melhor contexto para a ascensão de uma medicina focada na doença (e não na saúde), mina de ouro da indústria farmacêutica, da medicina privada e das máfias que devoram recursos públicos no sistema oficial.
O outro lado do caos na saúde permanece oculto, além da compreensão ou do interesse dos meios de comunicação e das massas desinformadas e manipuladas.
Para levar uma vida saudável não precisamos de tantos remédios e tecnologias no dia a dia, de tantos especialistas e de tanta hipocondria. Necessitamos, sim, de uma mudança de foco - da doença para a saúde - e de uma alteração radical em nossos hábitos patológicos, que debilitam o corpo e a alma.
Também nessa área a verdade é autoevidente. Vida sedentária e alimentação incorreta, baseada em enlatados e fast-foods, degeneram células e “enferrujam” nosso organismo. Cultivo de emoções negativas, como mágoas e ódios, destrói a paz e explode o corpo. Desrespeito aos ciclos da natureza, com a excitação permanente da mente, desorienta e abate os sistemas orgânicos. Uma vida apoiada no medo e no apego nos torna hipocondríacos. Crianças submetidas a pais estressados e de hábitos nocivos adoecem mais, devido à carga emocional e à ingestão frequente e desnecessária de remédios, como antibióticos e corticóides.
Os problemas na área da saúde podem ser reduzidos ou eliminados com medicina preventiva e humanizada, com mais atenção e orientação às pessoas. Trata-se do óbvio. Mas algo assim, simples e barato, resultaria em perdas bilionárias para todos os que lucram com a doença - da indústria aos médicos mercenários, dos políticos corruptos à burocracia mafiosa. É mais seguro,então, falar sobre o caos...
01/10/2013
Há dois lados na questão rotulada de caos na saúde.
O primeiro é aquele apresentado pelos meios de comunicação e confirmado diariamente pelos usuários dos sistemas público e privado.
No SUS faltam médicos, enfermeiros, instalações, equipamentos, remédios e, sobretudo, profissionalismo, atenção, cuidado e respeito para com as pessoas. Neste caso, os mais pobres são os mais prejudicados, embora contribuam para a manter o sistema mediante o pagamento de impostos diretos e indiretos.
No sistema privado, a classe média padece com a ganância dos planos de saúde de segunda linha, as filas, as restrições e os profissionais despreparados enquanto finge desfrutar de um serviço melhor pelo simples fato de não se encontrar na vala comum dos indigentes. (E, lá em cima, ricos e poderosos continuam torrando reais em medicina de ponta, sofisticada, o que não os livra da indigência maior da dependência a remédios e procedimentos tecnológicos).
Aí está o horizonte, o limite de nossa visão sobre a questão de saúde sob uma cultura que desconsidera a totalidade do ser e sua integração na natureza, perdendo-se em abordagens mecânicas das partes e na supervalorização das ameaças externas. Não poderia haver melhor contexto para a ascensão de uma medicina focada na doença (e não na saúde), mina de ouro da indústria farmacêutica, da medicina privada e das máfias que devoram recursos públicos no sistema oficial.
O outro lado do caos na saúde permanece oculto, além da compreensão ou do interesse dos meios de comunicação e das massas desinformadas e manipuladas.
Para levar uma vida saudável não precisamos de tantos remédios e tecnologias no dia a dia, de tantos especialistas e de tanta hipocondria. Necessitamos, sim, de uma mudança de foco - da doença para a saúde - e de uma alteração radical em nossos hábitos patológicos, que debilitam o corpo e a alma.
Também nessa área a verdade é autoevidente. Vida sedentária e alimentação incorreta, baseada em enlatados e fast-foods, degeneram células e “enferrujam” nosso organismo. Cultivo de emoções negativas, como mágoas e ódios, destrói a paz e explode o corpo. Desrespeito aos ciclos da natureza, com a excitação permanente da mente, desorienta e abate os sistemas orgânicos. Uma vida apoiada no medo e no apego nos torna hipocondríacos. Crianças submetidas a pais estressados e de hábitos nocivos adoecem mais, devido à carga emocional e à ingestão frequente e desnecessária de remédios, como antibióticos e corticóides.
Os problemas na área da saúde podem ser reduzidos ou eliminados com medicina preventiva e humanizada, com mais atenção e orientação às pessoas. Trata-se do óbvio. Mas algo assim, simples e barato, resultaria em perdas bilionárias para todos os que lucram com a doença - da indústria aos médicos mercenários, dos políticos corruptos à burocracia mafiosa. É mais seguro,então, falar sobre o caos...

Sexo e poder
O irlandês Oscar Wilde, gênio da arte e da crítica social, escreveu: “Tudo no mundo está relacionado a sexo, exceto o próprio sexo, que está relacionado a poder”.
Em princípio, a assertiva do artista visava a era vitoriana, caracterizada por um longo período de prosperidade no Reino Unido, graças à expansão do império britânico nos quatro cantos do planeta, à euforia da Revolução Industrial e à emergência de uma vasta classe média, educada, na metrópole da rainha Vitória. Mas, pensando bem, essa é uma frase de conteúdo universal e atemporal.
Aplica-se à Antiguidade e à Idade Média, como se pode notar nos registros da história e da literatura, e encaixa-se como uma luva no mundo contemporâneo, cada vez mais hedonista e fascinado pelo poder.
Não seria exagero afirmar-se que sexo e poder constituem a segunda locomotiva social de nosso tempo. A primeira é o medo, imbatível em sua capacidade de criar “necessidades”, estimular o consumo e manter as pessoas sob controle.
Considere-se ainda que, a exemplo da Inglaterra vitoriana, vivemos um período de expansão econômica e tecnológica, com aumento da classe média e a emergência de novos ricos - e sua predisposição narcisista e exibicionista -, e logo se perceberá o pano de fundo de hipocrisia sobre o qual o sexo sempre estará relacionado ao poder e não ao amor e ao esplendor da vida.
Dos tempos de Wilde aos nossos dias muita coisa mudou na periferia das relações humanas e tabus rolaram ao impacto de revoluções nos costumes, aí incluída a chamada revolução sexual. Mas na essência continuamos atados por grilhões atávicos. No campo da sexualidade, nossa relação com o impulso e com os sentimentos continua tão desastrosa quanto no passado repressivo, em razão da persistência, ainda que disfarçada, da velha visão de sexo como transgressão.
Na impossibilidade de vivenciá-lo com entrega, inocência e respeito, algo que só o amor (e não a posse) é capaz de viabilizar, resta-nos a opção de tornar o sexo utilitário, mediante seu uso para alcançarmos algum tipo de poder – mesmo que isso não vá além da trivial exibição do parceiro ou da parceira como troféu no circuito de solidão e insegurança das rodas sociais.
Falar sobre sexo e expor em público a própria intimidade não são, necessariamente, sinais de que estamos à vontade com as nossas energias, deixando-as fluir com naturalidade. Ser “predador” ou mulher fatal não significa que estamos felizes ou centrados, mas tão somente que navegamos num mar de carências e medos.
O sexo é uma das expressões mais fortes do mistério a que chamamos vida, fonte de equilíbrio e harmonia para o indivíduo e a humanidade. Mas enquanto não aprendermos a lidar com ele com a naturalidade com que respiramos ou comemos, sua manifestação, de algum modo, sempre nos conduzirá à fraude e à frustração.
24/09/2013
O irlandês Oscar Wilde, gênio da arte e da crítica social, escreveu: “Tudo no mundo está relacionado a sexo, exceto o próprio sexo, que está relacionado a poder”.
Em princípio, a assertiva do artista visava a era vitoriana, caracterizada por um longo período de prosperidade no Reino Unido, graças à expansão do império britânico nos quatro cantos do planeta, à euforia da Revolução Industrial e à emergência de uma vasta classe média, educada, na metrópole da rainha Vitória. Mas, pensando bem, essa é uma frase de conteúdo universal e atemporal.
Aplica-se à Antiguidade e à Idade Média, como se pode notar nos registros da história e da literatura, e encaixa-se como uma luva no mundo contemporâneo, cada vez mais hedonista e fascinado pelo poder.
Não seria exagero afirmar-se que sexo e poder constituem a segunda locomotiva social de nosso tempo. A primeira é o medo, imbatível em sua capacidade de criar “necessidades”, estimular o consumo e manter as pessoas sob controle.
Considere-se ainda que, a exemplo da Inglaterra vitoriana, vivemos um período de expansão econômica e tecnológica, com aumento da classe média e a emergência de novos ricos - e sua predisposição narcisista e exibicionista -, e logo se perceberá o pano de fundo de hipocrisia sobre o qual o sexo sempre estará relacionado ao poder e não ao amor e ao esplendor da vida.
Dos tempos de Wilde aos nossos dias muita coisa mudou na periferia das relações humanas e tabus rolaram ao impacto de revoluções nos costumes, aí incluída a chamada revolução sexual. Mas na essência continuamos atados por grilhões atávicos. No campo da sexualidade, nossa relação com o impulso e com os sentimentos continua tão desastrosa quanto no passado repressivo, em razão da persistência, ainda que disfarçada, da velha visão de sexo como transgressão.
Na impossibilidade de vivenciá-lo com entrega, inocência e respeito, algo que só o amor (e não a posse) é capaz de viabilizar, resta-nos a opção de tornar o sexo utilitário, mediante seu uso para alcançarmos algum tipo de poder – mesmo que isso não vá além da trivial exibição do parceiro ou da parceira como troféu no circuito de solidão e insegurança das rodas sociais.
Falar sobre sexo e expor em público a própria intimidade não são, necessariamente, sinais de que estamos à vontade com as nossas energias, deixando-as fluir com naturalidade. Ser “predador” ou mulher fatal não significa que estamos felizes ou centrados, mas tão somente que navegamos num mar de carências e medos.
O sexo é uma das expressões mais fortes do mistério a que chamamos vida, fonte de equilíbrio e harmonia para o indivíduo e a humanidade. Mas enquanto não aprendermos a lidar com ele com a naturalidade com que respiramos ou comemos, sua manifestação, de algum modo, sempre nos conduzirá à fraude e à frustração.

A sociedade e a segurança
[Conclusão da coluna anterior – O tripé da reeducação]
Ao conhecer a aplicação do Método Apac, em 2008, Ron Nickkel, diretor executivo da Prison Fellowship International, órgão consultivo da ONU para assuntos penitenciários, afirmou: “O fato mais importante que está acontecendo hoje no mundo, em matéria prisional, é o movimento das Apac no Brasil”. Faz sentido.
Em nenhum outro lugar nem o sistema penitenciário convencional nem as suas alternativas – inclusive as prisões privadas geridas por empresas – apresentam níveis tão altos de humanização do ambiente prisional e de ressocialização do delinquente quanto os dos Centros de Reintegração Social da Apac. Isso explica porque tantos países estão interessados na replicação do método em seus territórios.
O segredo desse sucesso baseia-se, sobretudo, numa receita de amor incondicional, disciplina e confiança, mas do ponto de vista da organização e da gerência há 12 pontos básicos que garantem a aplicação do método, impedindo-o de naufragar no pântano dos interesses mesquinhos.
O primeiro deles é a participação da comunidade. É a ela, no exercício de seu direito de participar da execução penal, que compete introduzir o método e perseverar no seu cumprimento. A Apac é fruto da sociedade organizada e mobilizada.
Outros três elementos se destacam: a adesão do preso, a participação de sua família e o cultivo da espiritualidade.
A Apac não escolhe hóspedes, acolhe os que lhe são enviados pela Justiça. Mas nenhum recuperando (preso) permanece ali sem que tenha aderido, por escrito, ao método e às obrigações que dele decorrem. Isso é importante porque na Apac recuperandos cuidam de recuperandos e são eles, através das representações de cela e do Conselho de Sinceridade e Solidariedade (que tem a guarda das chaves da prisão), co-responsáveis pela rígida disciplina do sistema.
Na contramão do sistema comum, onde familiares de presos chegam a ser desrespeitados pelos agentes do estado, na Apac a família torna-se uma aliada e funciona como um dos maiores estímulos à adesão do recuperando ao método. Sua ação é tão ou mais importante que o cultivo da espiritualidade (com liberdade de credo), essencial à reforma de valores.
Os demais elementos do método são o trabalho, a valorização humana (incluindo o estudo obrigatório), a assistência à saúde (incluso aí o atendimento psicológico personalizado), a assistência jurídica, a apuração do mérito (com acompanhamento minucioso da vida prisional do recuperando), o Centro de Reintegração Social e suas instalações dignas e suficientes, a Jornada de Libertação com Cristo (momento anual de reflexões) e, claro, o voluntariado e sua criteriosa formação.
O trabalho da Apac é baseado na gratuidade e no serviço ao próximo. Os funcionários estão restritos ao setor administrativo e o nepotismo não é tolerado.
17/09/2013
[Conclusão da coluna anterior – O tripé da reeducação]
Ao conhecer a aplicação do Método Apac, em 2008, Ron Nickkel, diretor executivo da Prison Fellowship International, órgão consultivo da ONU para assuntos penitenciários, afirmou: “O fato mais importante que está acontecendo hoje no mundo, em matéria prisional, é o movimento das Apac no Brasil”. Faz sentido.
Em nenhum outro lugar nem o sistema penitenciário convencional nem as suas alternativas – inclusive as prisões privadas geridas por empresas – apresentam níveis tão altos de humanização do ambiente prisional e de ressocialização do delinquente quanto os dos Centros de Reintegração Social da Apac. Isso explica porque tantos países estão interessados na replicação do método em seus territórios.
O segredo desse sucesso baseia-se, sobretudo, numa receita de amor incondicional, disciplina e confiança, mas do ponto de vista da organização e da gerência há 12 pontos básicos que garantem a aplicação do método, impedindo-o de naufragar no pântano dos interesses mesquinhos.
O primeiro deles é a participação da comunidade. É a ela, no exercício de seu direito de participar da execução penal, que compete introduzir o método e perseverar no seu cumprimento. A Apac é fruto da sociedade organizada e mobilizada.
Outros três elementos se destacam: a adesão do preso, a participação de sua família e o cultivo da espiritualidade.
A Apac não escolhe hóspedes, acolhe os que lhe são enviados pela Justiça. Mas nenhum recuperando (preso) permanece ali sem que tenha aderido, por escrito, ao método e às obrigações que dele decorrem. Isso é importante porque na Apac recuperandos cuidam de recuperandos e são eles, através das representações de cela e do Conselho de Sinceridade e Solidariedade (que tem a guarda das chaves da prisão), co-responsáveis pela rígida disciplina do sistema.
Na contramão do sistema comum, onde familiares de presos chegam a ser desrespeitados pelos agentes do estado, na Apac a família torna-se uma aliada e funciona como um dos maiores estímulos à adesão do recuperando ao método. Sua ação é tão ou mais importante que o cultivo da espiritualidade (com liberdade de credo), essencial à reforma de valores.
Os demais elementos do método são o trabalho, a valorização humana (incluindo o estudo obrigatório), a assistência à saúde (incluso aí o atendimento psicológico personalizado), a assistência jurídica, a apuração do mérito (com acompanhamento minucioso da vida prisional do recuperando), o Centro de Reintegração Social e suas instalações dignas e suficientes, a Jornada de Libertação com Cristo (momento anual de reflexões) e, claro, o voluntariado e sua criteriosa formação.
O trabalho da Apac é baseado na gratuidade e no serviço ao próximo. Os funcionários estão restritos ao setor administrativo e o nepotismo não é tolerado.

O tripé da reeducação
[Continuação da coluna anterior – Cumpra-se a lei]
A lei é aplicada integralmente nos Centros de Recuperação Social da Apac (prisões), cumprindo o seu objetivo de punir o autor do delito, reparar a lesão social e reeducar o infrator porque apoiada sobre uma base de amor, confiança e disciplina. Este é o tripé que falta ao falido sistema penitenciário convencional, tornando-o vulnerável a todo tipo de ataque de interesses delituosos da parte de criminosos e até de quem tem o dever legal de tutelá-los e reeducá-los.
Aqui, não faço poesia. Refiro-me a algo comprovado pela repetição cotidiana e por muitos estudos da psicologia.
Como alguém que perdeu a noção de sua própria dignidade e a fé na vida, no próximo e nos contratos sociais – o fundo do poço de qualquer delinquente abandonado ao inferno das prisões comuns – consegue reerguer-se sem que seja alvo de um mínimo de afeto e confiança? A ausência desses dois elementos, num ambiente no qual o condenado é visto e tratado como um caso perdido, um resíduo tóxico a ser descartado, inviabiliza a disciplina com fins educativos, esteira através da qual hábitos e valores são reciclados, trazendo de volta o orgulho de ser gente.
Sem amor, confiança e disciplina a aplicação da Lei de Execução Penal (LEP), cujo texto propõe e garante a reeducação do condenado, torna-se letra morta na falta de comprometimento dos agentes do estado e, pior, na sabotagem contínua cometida por aqueles a quem interessa o caos do sistema penitenciário, fonte inesgotável de todo tipo de corrupção, dentro e fora das prisões.
Estabelece-se aí a falácia de que a brutalidade é o único recurso que nos resta para a lidar com a questão da criminalidade, ideia lamentavelmente aceita pela maioria da sociedade. Mas esse é um castelo de areia que se desmonta ao sopro de uma experiência renovadora.
Por que nos centros de recuperação social da Apac consegue-se aplicar a LEP e os presos cumprem rigorosa rotina de estudo, trabalho, reflexões e práticas religiosas? Por que estão sempre limpos e suas celas permanentemente limpas e arrumadas? Por que não há lama nem sujeira em qualquer pavilhão? Por que ali não se consome drogas nem se utiliza celulares clandestinos? Por que os presos que cometem alguma falta (ser grosseiro com um colega, por exemplo, pode resultar em 5 cinco dias sem sair da cela) submetem-se às corrigendas sem reclamar?
Porque o amor e a confiança os convenceram de que nenhum homem é irrecuperável. Porque o tratamento justo que recebem (com assistência médica, psicológica e hábitos civilizados, como o de comer em refeitório com direito ao uso de talheres) os persuadiram a se verem gente como a gente e, como qualquer um de nós, capazes de redirecionar suas vidas, mediante o cultivo de novos valores e hábitos sob uma disciplina rígida, mas humanizada.
[Continua na próxima terça-feira]
10/09/2013
[Continuação da coluna anterior – Cumpra-se a lei]
A lei é aplicada integralmente nos Centros de Recuperação Social da Apac (prisões), cumprindo o seu objetivo de punir o autor do delito, reparar a lesão social e reeducar o infrator porque apoiada sobre uma base de amor, confiança e disciplina. Este é o tripé que falta ao falido sistema penitenciário convencional, tornando-o vulnerável a todo tipo de ataque de interesses delituosos da parte de criminosos e até de quem tem o dever legal de tutelá-los e reeducá-los.
Aqui, não faço poesia. Refiro-me a algo comprovado pela repetição cotidiana e por muitos estudos da psicologia.
Como alguém que perdeu a noção de sua própria dignidade e a fé na vida, no próximo e nos contratos sociais – o fundo do poço de qualquer delinquente abandonado ao inferno das prisões comuns – consegue reerguer-se sem que seja alvo de um mínimo de afeto e confiança? A ausência desses dois elementos, num ambiente no qual o condenado é visto e tratado como um caso perdido, um resíduo tóxico a ser descartado, inviabiliza a disciplina com fins educativos, esteira através da qual hábitos e valores são reciclados, trazendo de volta o orgulho de ser gente.
Sem amor, confiança e disciplina a aplicação da Lei de Execução Penal (LEP), cujo texto propõe e garante a reeducação do condenado, torna-se letra morta na falta de comprometimento dos agentes do estado e, pior, na sabotagem contínua cometida por aqueles a quem interessa o caos do sistema penitenciário, fonte inesgotável de todo tipo de corrupção, dentro e fora das prisões.
Estabelece-se aí a falácia de que a brutalidade é o único recurso que nos resta para a lidar com a questão da criminalidade, ideia lamentavelmente aceita pela maioria da sociedade. Mas esse é um castelo de areia que se desmonta ao sopro de uma experiência renovadora.
Por que nos centros de recuperação social da Apac consegue-se aplicar a LEP e os presos cumprem rigorosa rotina de estudo, trabalho, reflexões e práticas religiosas? Por que estão sempre limpos e suas celas permanentemente limpas e arrumadas? Por que não há lama nem sujeira em qualquer pavilhão? Por que ali não se consome drogas nem se utiliza celulares clandestinos? Por que os presos que cometem alguma falta (ser grosseiro com um colega, por exemplo, pode resultar em 5 cinco dias sem sair da cela) submetem-se às corrigendas sem reclamar?
Porque o amor e a confiança os convenceram de que nenhum homem é irrecuperável. Porque o tratamento justo que recebem (com assistência médica, psicológica e hábitos civilizados, como o de comer em refeitório com direito ao uso de talheres) os persuadiram a se verem gente como a gente e, como qualquer um de nós, capazes de redirecionar suas vidas, mediante o cultivo de novos valores e hábitos sob uma disciplina rígida, mas humanizada.
[Continua na próxima terça-feira]

Cumpra-se a lei
Uma crença mínima nas instituições ainda nos leva a achar que um presídio é um lugar onde se cumpre a lei. Não é. Excetuadas as malocas dos tráficantes e os escritórios dos delinquentes engravatados, provavelmente não existe espaço mais corrompido que uma penitenciária. Ali, a Lei de Execução Penal, a LEP, deveria ser aplicada para punir e reeducar o delinquente, preparando-o para a sua reinserção social. As condições reais, no entanto, são outras.
Em suas linhas gerais, a LEP é moderna e justa. O sistema penitenciário, por sua prática insana, é primitivo e depravado. Deixados em seus antros, ladrões de galinhas são convencidos e treinados para o crime profissional sob o efeito do abandono, da ociosidade, da crueldade, da corrupção banalizada e da completa inversão dos valores morais.
O que, em tese, deveria proteger a sociedade e recuperar o homem tornou-se fator de insegurança e desintegração sociais, uma máquina perversa que se alimenta da cultura do medo, do individualismo e da leniência de agentes do estado e da própria sociedade ante a corrupção de princípios.
Um sistema prisional assim, deturpado e falido, só se mantém de pé à custa de pânico (catalizado pela mídia e alguns comunicadores inescrupulosos) e dinheiro, muito dinheiro. E é o que se faz com razoável sucesso, graças à ignorância e acomodação da maioria da população.
A solução efetiva para tal problema, no entanto, passa pela varredura integral do velho sistema, com perdas para os que tiram proveitodo caos e ganhos para a sociedade em economia de recursos e, sobretudo, eficiência e proteção, mediante a ressocialização do criminoso.
Esta solução existe, é brasileira e, apesar de ainda desconhecida em nosso país, conta hoje com o aval da ONU e já foi importada, com adaptações, por 13 países em quatro continentes.
Na semana passada, tive a oportunidade de testemunhar a aplicação dessa que considero a melhor alternativa ao nosso caos penitenciário, o Método APAC, numa unidade cuja excelência foi comprovada em mais de 30 anos de atuação: o Centro de Recuperação Social (prisão) de Itaúna, em Minas Gerais. Internado em suas instalações, vi e participei de sua rotina diária, comprovando o que, à primeira vista, pode parecer ficção.
Como uma prisão organizada e gerida pela comunidade, sem polícia e sem agentes penitenciários, com um custo 75% mais baixo que o do sistema comum consegue funcionar sem rebeliões, sem tráfico, sem corrupção, sem tortura e sem humilhação às famílias dos presos, praticamente sem fugas e com um índice de não reincidência (ressocialização) beirando os 90%, em contraste escandaloso com os ínfimos 10% do sistema convencional?
A resposta vai muito além do aspecto legal, mas é transparente que na APAC tudo começa com o rigoroso cumprimento da lei, sob a crença fundamental de que o amor, a confiança e a disciplina são fatores básicos na reeducação do homem.
[Continua na próxima terça-feira]
03/09/2013
Uma crença mínima nas instituições ainda nos leva a achar que um presídio é um lugar onde se cumpre a lei. Não é. Excetuadas as malocas dos tráficantes e os escritórios dos delinquentes engravatados, provavelmente não existe espaço mais corrompido que uma penitenciária. Ali, a Lei de Execução Penal, a LEP, deveria ser aplicada para punir e reeducar o delinquente, preparando-o para a sua reinserção social. As condições reais, no entanto, são outras.
Em suas linhas gerais, a LEP é moderna e justa. O sistema penitenciário, por sua prática insana, é primitivo e depravado. Deixados em seus antros, ladrões de galinhas são convencidos e treinados para o crime profissional sob o efeito do abandono, da ociosidade, da crueldade, da corrupção banalizada e da completa inversão dos valores morais.
O que, em tese, deveria proteger a sociedade e recuperar o homem tornou-se fator de insegurança e desintegração sociais, uma máquina perversa que se alimenta da cultura do medo, do individualismo e da leniência de agentes do estado e da própria sociedade ante a corrupção de princípios.
Um sistema prisional assim, deturpado e falido, só se mantém de pé à custa de pânico (catalizado pela mídia e alguns comunicadores inescrupulosos) e dinheiro, muito dinheiro. E é o que se faz com razoável sucesso, graças à ignorância e acomodação da maioria da população.
A solução efetiva para tal problema, no entanto, passa pela varredura integral do velho sistema, com perdas para os que tiram proveitodo caos e ganhos para a sociedade em economia de recursos e, sobretudo, eficiência e proteção, mediante a ressocialização do criminoso.
Esta solução existe, é brasileira e, apesar de ainda desconhecida em nosso país, conta hoje com o aval da ONU e já foi importada, com adaptações, por 13 países em quatro continentes.
Na semana passada, tive a oportunidade de testemunhar a aplicação dessa que considero a melhor alternativa ao nosso caos penitenciário, o Método APAC, numa unidade cuja excelência foi comprovada em mais de 30 anos de atuação: o Centro de Recuperação Social (prisão) de Itaúna, em Minas Gerais. Internado em suas instalações, vi e participei de sua rotina diária, comprovando o que, à primeira vista, pode parecer ficção.
Como uma prisão organizada e gerida pela comunidade, sem polícia e sem agentes penitenciários, com um custo 75% mais baixo que o do sistema comum consegue funcionar sem rebeliões, sem tráfico, sem corrupção, sem tortura e sem humilhação às famílias dos presos, praticamente sem fugas e com um índice de não reincidência (ressocialização) beirando os 90%, em contraste escandaloso com os ínfimos 10% do sistema convencional?
A resposta vai muito além do aspecto legal, mas é transparente que na APAC tudo começa com o rigoroso cumprimento da lei, sob a crença fundamental de que o amor, a confiança e a disciplina são fatores básicos na reeducação do homem.
[Continua na próxima terça-feira]

Homem, mulher, memória
Sempre tive boa memória. Na infância e na juventude guardava com precisão detalhes mínimos de documentos lidos e fatos que presenciava, inclusive números. Na escola isso era uma mão na roda, em especial nos dias de provas. No relacionamento com os adultos, era uma forma de ser aceito e abrir oportunidades. Talvez eu tenha sido aquinhoado, naquela época, com a tal "memória fotográfica", uma vantagem competitiva que iria ajudar-me bastante quando tornei-me repórter, aos 14 anos de idade.
Infelizmente, esse atributo do passado dissolveu-se na enxurrada dos anos. Ainda consigo escrever um texto descritivo ou falar uma hora sobre um tema sem recorrer a anotações e sem cometer deslizes graves. Tambémsou ágil para mapear uma metrópole desconhecida e ficar à vontade para curtí-la com segurança em menos de 24 horas, mas falho no reconhecimento de pessoas com quem mantive contato no passado e, sobretudo, na precisão dos números.
Fazer o quê? O tempo tem seus caprichos e - é preciso lembrar! - esquecer também tem sua utilidade, principalmente na gestão de nossa vida emocional. Fixarmo-nos em detalhes de situações que levaram a desentendimentos e perdas reforça os sentimentos de apego e aversão, que estäo na base de todo sofrimento, e dificulta o perdão, indispensável ao frescor da vida.
Qualquer que seja o nível de seu desempenho, no entanto, a memória é fortemente seletiva. Os registros que acessamos com mais facilidade dizem respeito a fatos e detalhes que nos interessam por atribuirmos a eles um significado. E, nesse aspecto, a memória é também um sinalizador importante de como homens e mulheres costumam sentir e idealizar o mundo.
Se você é homem e casado, como eu, certamente, já foi cobrado por sua companheira por não lembrar o aniversário de um parente ou por ter esquecido o nome daquela vizinha invasiva.
E quando a mulher reencontra uma velha amiga, uma daquelas que partilharam do cotidiano de sua casa enquanto seus filhos cresciam? Aí o bicho pega.
Isso aconteceu comigo na semana passada, em São Paulo, durante um jantar no apartamento da melhor amiga de minha esposa e o resultado foi constrangedor (para mim, claro). As duas mulheres, entusiasmadas com suas reminiscências, a todo momento me solicitavam a atenção com relatos sobre pessoas e fatos domésticos que só por cortesia eu confirmava com um movimento de cabeça.
É inexplicável para um homem, acostumado a apreender o conjunto e a subestimar o detalhe, que as mulheres consigam registrar e, mais que isso, se deliciar com filigranas tão terciárias do mundo objetivo. Mas se isso acontece é porque a empáfia machista obsta a inteligência e encobre o óbvio.
São os detalhes e as pitadas de emoção nos gestos do dia a dia que dão sabor à vida e nos aproximam dos outros. Identificá-los e valorizá-los, sob um olhar inclusivo e compassivo, promove e preserva as relações humanas, tornando-as novas a cada manhã.
27/08/2013
Sempre tive boa memória. Na infância e na juventude guardava com precisão detalhes mínimos de documentos lidos e fatos que presenciava, inclusive números. Na escola isso era uma mão na roda, em especial nos dias de provas. No relacionamento com os adultos, era uma forma de ser aceito e abrir oportunidades. Talvez eu tenha sido aquinhoado, naquela época, com a tal "memória fotográfica", uma vantagem competitiva que iria ajudar-me bastante quando tornei-me repórter, aos 14 anos de idade.
Infelizmente, esse atributo do passado dissolveu-se na enxurrada dos anos. Ainda consigo escrever um texto descritivo ou falar uma hora sobre um tema sem recorrer a anotações e sem cometer deslizes graves. Tambémsou ágil para mapear uma metrópole desconhecida e ficar à vontade para curtí-la com segurança em menos de 24 horas, mas falho no reconhecimento de pessoas com quem mantive contato no passado e, sobretudo, na precisão dos números.
Fazer o quê? O tempo tem seus caprichos e - é preciso lembrar! - esquecer também tem sua utilidade, principalmente na gestão de nossa vida emocional. Fixarmo-nos em detalhes de situações que levaram a desentendimentos e perdas reforça os sentimentos de apego e aversão, que estäo na base de todo sofrimento, e dificulta o perdão, indispensável ao frescor da vida.
Qualquer que seja o nível de seu desempenho, no entanto, a memória é fortemente seletiva. Os registros que acessamos com mais facilidade dizem respeito a fatos e detalhes que nos interessam por atribuirmos a eles um significado. E, nesse aspecto, a memória é também um sinalizador importante de como homens e mulheres costumam sentir e idealizar o mundo.
Se você é homem e casado, como eu, certamente, já foi cobrado por sua companheira por não lembrar o aniversário de um parente ou por ter esquecido o nome daquela vizinha invasiva.
E quando a mulher reencontra uma velha amiga, uma daquelas que partilharam do cotidiano de sua casa enquanto seus filhos cresciam? Aí o bicho pega.
Isso aconteceu comigo na semana passada, em São Paulo, durante um jantar no apartamento da melhor amiga de minha esposa e o resultado foi constrangedor (para mim, claro). As duas mulheres, entusiasmadas com suas reminiscências, a todo momento me solicitavam a atenção com relatos sobre pessoas e fatos domésticos que só por cortesia eu confirmava com um movimento de cabeça.
É inexplicável para um homem, acostumado a apreender o conjunto e a subestimar o detalhe, que as mulheres consigam registrar e, mais que isso, se deliciar com filigranas tão terciárias do mundo objetivo. Mas se isso acontece é porque a empáfia machista obsta a inteligência e encobre o óbvio.
São os detalhes e as pitadas de emoção nos gestos do dia a dia que dão sabor à vida e nos aproximam dos outros. Identificá-los e valorizá-los, sob um olhar inclusivo e compassivo, promove e preserva as relações humanas, tornando-as novas a cada manhã.

O papel da mulher
A história da afirmação da mulher numa civilização erguida sobre bases machistas, como a nossa, não é uma narrativa cor-de-rosa. A discriminação do feminino, no passado e ainda no presente, tem dado margem a todo tipo preconceito e injustiças que limitam o papel social da mulher e impedem o mundo de se beneficiar das virtudes inerentes às suas especificidades.
Lamentavelmente, a exemplo do que acontece com o domínio exercido por etnias e classes sociais, também na opressão machista dá-se o fenômeno da absorção dos valores do dominador pelo dominado, perpetuando a sua reprodução. Na prática, a própria mulher, seja como mãe, educadora ou chefe, repassa os valores machistas e, na sua ânsia de tornar-se apta a conter o opressor, acaba mimetizando suas características.
Se no passado, o machismo internalizado levou grande parte das mulheres, por instinto de sobrevivência, a se moverem num ambiente de dissimulação próxima à caricatura traçada por Schopenhauer no século 19 – na qual a mulher é retratada como um ser inferior e vil, cujo único objetivo é manipular o homem através do sexo -, penso que hoje o feminismo militante tem reforçado o substrato da dominação pela imitação de hábitos “masculinos”, roubando das mulheres a oportunidade de fazerem a diferença.
No imaginário da mulher mediana parece ter se estabelecido a ilusão de que a liberação feminina se confunde com a adesão a posturas, ambições e, sobretudo, vícios que marcam , até aqui, a trajetória do macho. E nesse contexto perdem força justamente a suavidade, a tolerância e o carinhoso acolhimento da vida – características do princípio da ânima na conceituação de Carl Jung – tão necessários aos nossos dias ásperos.
Em supremo triunfo machista, estabeleceu-se, enfim, na alma feminina, a ideia de que sua natureza é frágil e insuficiente e se presta apenas aos papéis coadjuvantes, negando a história de mulheres que em todas as épocas, mesmo sob opressão, ajudaram a melhorar o mundo, sem sufocarem a ternura e a maternidade. Uma vilania só comparável à noção de que um afrodescendente só pode ser reconhecido se negar os valores de sua cultura, tornando-se um negro de alma branca.
E por que esses pensamentos me vem à mente nesta manhã de segunda? Porque ontem ajudei a sepultar o corpo de uma mulher valorosa que, sem jamais perder a leveza feminina e a dedicação das mães, deixou aqui sua marca através de realizações que mudaram vidas e beneficiaram milhares de pessoas.
Forte, destemida e empreendedora, Maria Dagmar Falcão de Melo – a respeitável Dona Dagmar - soube equilibrar suas facetas de mãe, empresária, servidora espírita e benfeitora de jovens e velhos, erguendo grandes obras visíveis e outras ainda maiores no apostolado anônimo da escuta e assistência aos necessitados. Sua presença entre nós tornou melhores nossa cidade e nosso mundo.
20/08/2013
A história da afirmação da mulher numa civilização erguida sobre bases machistas, como a nossa, não é uma narrativa cor-de-rosa. A discriminação do feminino, no passado e ainda no presente, tem dado margem a todo tipo preconceito e injustiças que limitam o papel social da mulher e impedem o mundo de se beneficiar das virtudes inerentes às suas especificidades.
Lamentavelmente, a exemplo do que acontece com o domínio exercido por etnias e classes sociais, também na opressão machista dá-se o fenômeno da absorção dos valores do dominador pelo dominado, perpetuando a sua reprodução. Na prática, a própria mulher, seja como mãe, educadora ou chefe, repassa os valores machistas e, na sua ânsia de tornar-se apta a conter o opressor, acaba mimetizando suas características.
Se no passado, o machismo internalizado levou grande parte das mulheres, por instinto de sobrevivência, a se moverem num ambiente de dissimulação próxima à caricatura traçada por Schopenhauer no século 19 – na qual a mulher é retratada como um ser inferior e vil, cujo único objetivo é manipular o homem através do sexo -, penso que hoje o feminismo militante tem reforçado o substrato da dominação pela imitação de hábitos “masculinos”, roubando das mulheres a oportunidade de fazerem a diferença.
No imaginário da mulher mediana parece ter se estabelecido a ilusão de que a liberação feminina se confunde com a adesão a posturas, ambições e, sobretudo, vícios que marcam , até aqui, a trajetória do macho. E nesse contexto perdem força justamente a suavidade, a tolerância e o carinhoso acolhimento da vida – características do princípio da ânima na conceituação de Carl Jung – tão necessários aos nossos dias ásperos.
Em supremo triunfo machista, estabeleceu-se, enfim, na alma feminina, a ideia de que sua natureza é frágil e insuficiente e se presta apenas aos papéis coadjuvantes, negando a história de mulheres que em todas as épocas, mesmo sob opressão, ajudaram a melhorar o mundo, sem sufocarem a ternura e a maternidade. Uma vilania só comparável à noção de que um afrodescendente só pode ser reconhecido se negar os valores de sua cultura, tornando-se um negro de alma branca.
E por que esses pensamentos me vem à mente nesta manhã de segunda? Porque ontem ajudei a sepultar o corpo de uma mulher valorosa que, sem jamais perder a leveza feminina e a dedicação das mães, deixou aqui sua marca através de realizações que mudaram vidas e beneficiaram milhares de pessoas.
Forte, destemida e empreendedora, Maria Dagmar Falcão de Melo – a respeitável Dona Dagmar - soube equilibrar suas facetas de mãe, empresária, servidora espírita e benfeitora de jovens e velhos, erguendo grandes obras visíveis e outras ainda maiores no apostolado anônimo da escuta e assistência aos necessitados. Sua presença entre nós tornou melhores nossa cidade e nosso mundo.

O mal do século
A expressão mal do século virou um clichê, um estereótipo. Nos últimos anos foi repetida em incontáveis textos sobre doenças que assumem o perfil de pandemia, atingindo um número colossal de pessoas. Eu mesmo apliquei esse rótulo às alergias, ao escrever sobre elas há dez anos na revista Superinteressante. Mas agora vejo: há males mais relevantes e perigosos, os quais nos envenenam a partir da alma.
Para mim, hoje, o mal do século é a ansiedade. Isto é, aquela sofreguidão que nasce do permanente receio de que estamos perdendo algo e é preciso acelerar para continuarmos no bonde da vida. Não é uma barra maneira para qualquer humano, embora em nossos dias “viver com adrenalina” seja a meta de milhões de pessoas.
Em sua expressão psicológica, ansiedade é impaciência pura em todo tempo e lugar. É a incapacidade de viver os ciclos da vida, fruir as etapas de cada evento, sentir o sabor das coisas. Então, uma abertura de novela, de não mais que dois minutos, parece-nos uma travessia do oceano da qual nos defendemos acionando o controle remoto. Na conversa com um amigo, a frase mais longa e serena torna-se suplício do qual fugimos antecipando respostas ao pensamento inconcluso.
Em sua face orgânica, é a manifestação de fenômenos somáticos como sudorese, taquicardia, transtornos digestivos, distúrbios do sono e tantos outros. É sobrecarga a todo o corpo, fruto da ação constante e intensiva do sistema nervoso simpático, aquele que nos livra do perigo em situações de emergência.
Como não há nada fora do lugar na criação divina, a ansiedade tem sua razão de ser num universo que exige a polaridade para existir e manifestar-se. Um indivíduo sem um mínimo de apreensão certamente estaria morto. Precisamos desse estímulo para agir e reagir, construir e descontruir. Mas, a exemplo das substâncias medicinais, aqui também a diferença entre o que cura e o que mata está na dose.
Um mundo de pessoas desconectadas de sua espiritualidade, a dimensão mais profunda do ser, sempre estável e centrada, inevitavelmente acabaria tragado pelas ondas periféricas das pulsões egóicas, habitat das emoções e da eterna carência.
Há muito discurso, muita droga (e manipulação da industria farmacêutica) e muitos interesses do mercado (que sabe que a curva do consumo acompanha a do medo) na abordagem da pandemia de ansiedade, mas o mal do século é, no fundo, um sintoma de inconsciência.
Observar-nos para nos autoconhecermos, mexer no edifício de nossos valores ou simplesmente desconstruí-los, abraçar a filosofia ou uma prática espiritual não utilitarista são “remédios” eficazes e sem custo financeiro para curarmos a doença da ansiedade. Mas uma coisa assim, tão simples e tão ousada, incomoda a mente enredada em ilusões e, sobretudo, aos que tiram proveito disso.
13/08/2013
A expressão mal do século virou um clichê, um estereótipo. Nos últimos anos foi repetida em incontáveis textos sobre doenças que assumem o perfil de pandemia, atingindo um número colossal de pessoas. Eu mesmo apliquei esse rótulo às alergias, ao escrever sobre elas há dez anos na revista Superinteressante. Mas agora vejo: há males mais relevantes e perigosos, os quais nos envenenam a partir da alma.
Para mim, hoje, o mal do século é a ansiedade. Isto é, aquela sofreguidão que nasce do permanente receio de que estamos perdendo algo e é preciso acelerar para continuarmos no bonde da vida. Não é uma barra maneira para qualquer humano, embora em nossos dias “viver com adrenalina” seja a meta de milhões de pessoas.
Em sua expressão psicológica, ansiedade é impaciência pura em todo tempo e lugar. É a incapacidade de viver os ciclos da vida, fruir as etapas de cada evento, sentir o sabor das coisas. Então, uma abertura de novela, de não mais que dois minutos, parece-nos uma travessia do oceano da qual nos defendemos acionando o controle remoto. Na conversa com um amigo, a frase mais longa e serena torna-se suplício do qual fugimos antecipando respostas ao pensamento inconcluso.
Em sua face orgânica, é a manifestação de fenômenos somáticos como sudorese, taquicardia, transtornos digestivos, distúrbios do sono e tantos outros. É sobrecarga a todo o corpo, fruto da ação constante e intensiva do sistema nervoso simpático, aquele que nos livra do perigo em situações de emergência.
Como não há nada fora do lugar na criação divina, a ansiedade tem sua razão de ser num universo que exige a polaridade para existir e manifestar-se. Um indivíduo sem um mínimo de apreensão certamente estaria morto. Precisamos desse estímulo para agir e reagir, construir e descontruir. Mas, a exemplo das substâncias medicinais, aqui também a diferença entre o que cura e o que mata está na dose.
Um mundo de pessoas desconectadas de sua espiritualidade, a dimensão mais profunda do ser, sempre estável e centrada, inevitavelmente acabaria tragado pelas ondas periféricas das pulsões egóicas, habitat das emoções e da eterna carência.
Há muito discurso, muita droga (e manipulação da industria farmacêutica) e muitos interesses do mercado (que sabe que a curva do consumo acompanha a do medo) na abordagem da pandemia de ansiedade, mas o mal do século é, no fundo, um sintoma de inconsciência.
Observar-nos para nos autoconhecermos, mexer no edifício de nossos valores ou simplesmente desconstruí-los, abraçar a filosofia ou uma prática espiritual não utilitarista são “remédios” eficazes e sem custo financeiro para curarmos a doença da ansiedade. Mas uma coisa assim, tão simples e tão ousada, incomoda a mente enredada em ilusões e, sobretudo, aos que tiram proveito disso.

Sagrada família
Desde os 16 anos de idade, escuto pessoas. Já são mais de quatro décadas em que, sem ser psicólogo, médico ou padre, ouço relatos, confissões mesmo, de muita gente, em especial dos mais pobres em seu duro cotidiano nas periferias. Penso que a minha modesta prática espiritual é o que motiva tais pessoas a abrirem o seu coração para alguém que, como elas, experimenta no dia a dia as dores, prazeres e contradições da condição humana.
É claro que, nessas ocasiões, reservo-me o direito de ser apenas um ombro amigo – que tanto falta em um mundo onde as relações humanas são guiadas por valores econômicos e pelo pragmatismo – ou o provocador que estimula no outro a atitude de observar um problema de outro ângulo. É saudável para o indivíduo e para a sociedade que cada pessoa enfrente e supere os próprios desafios, assumindo a responsabilidade por suas escolhas intransferíveis.
Pois bem. Um dos pontos que mais me chama a atenção nesses diálogos fraternos é o nível de idealização em que lidamos com a instituição família. As pessoas estão sempre buscando o ideal de uma “sagrada família”, harmonizada e alegre, que colide com o seu histórico pessoal de frustrações e traumas.
Querem pais perfeitos, filhos sempre gratos e colaborativos, irmãos transparentes e leais, esposos concordantes. No extremo do anseio, muitas conjeturam sobre sua “família espiritual” à qual pretendem se reintegrar um dia em algum lugar deste ou de outro mundo.
A questão é que jamais existiu – e, provavelmente, jamais existirá - uma sagrada família, harmoniosa e unânime o tempo inteiro, pelo simples fato de não existirem mentes e almas clonados. Cada ser humano torna-se único por sua herança genética, suas interações com o ambiente e seus dotes espirituais, o que nos remete invariavelmente à instabilidade das relações entre diferentes. É a ética, com o seu conceito de direito e dever, e, sobretudo, o amor, em seu potencial de aceitação da vida, que nos levam a contornar os obstáculos naturais ao entendimento e à parceria.
Nem mesmo Jesus escapou a essa contingência da caminhada humana. Seus pais não entenderam de pronto sua opção de vida e, em certo momento, piedosamente o julgaram louco. Seus irmãos, em algumas ocasiões, mobilizaram-se para contê-lo. Com Ghandi, o apóstolo hindu, a dificuldade maior foi com um filho que, em um surto egóico de “carência”, escreveu um artigo na imprensa para desmascarar o pai, que dedicara sua vida a um projeto coletivo.
A verdade é que ninguém está fora de sua “família espiritual”. A vida sempre nos coloca no lugar e na circunstância onde podemos aprender e ensinar. Cada situação é específica e nos pede ação apropriada. O importante é que, à maneira dos grandes mestres, o sim ou o não, a doçura ou a firmeza, a renúncia ou enfrentamento sempre aconteçam sob a motivação do amor, fonte e razão da vida.
06/08/2013
Desde os 16 anos de idade, escuto pessoas. Já são mais de quatro décadas em que, sem ser psicólogo, médico ou padre, ouço relatos, confissões mesmo, de muita gente, em especial dos mais pobres em seu duro cotidiano nas periferias. Penso que a minha modesta prática espiritual é o que motiva tais pessoas a abrirem o seu coração para alguém que, como elas, experimenta no dia a dia as dores, prazeres e contradições da condição humana.
É claro que, nessas ocasiões, reservo-me o direito de ser apenas um ombro amigo – que tanto falta em um mundo onde as relações humanas são guiadas por valores econômicos e pelo pragmatismo – ou o provocador que estimula no outro a atitude de observar um problema de outro ângulo. É saudável para o indivíduo e para a sociedade que cada pessoa enfrente e supere os próprios desafios, assumindo a responsabilidade por suas escolhas intransferíveis.
Pois bem. Um dos pontos que mais me chama a atenção nesses diálogos fraternos é o nível de idealização em que lidamos com a instituição família. As pessoas estão sempre buscando o ideal de uma “sagrada família”, harmonizada e alegre, que colide com o seu histórico pessoal de frustrações e traumas.
Querem pais perfeitos, filhos sempre gratos e colaborativos, irmãos transparentes e leais, esposos concordantes. No extremo do anseio, muitas conjeturam sobre sua “família espiritual” à qual pretendem se reintegrar um dia em algum lugar deste ou de outro mundo.
A questão é que jamais existiu – e, provavelmente, jamais existirá - uma sagrada família, harmoniosa e unânime o tempo inteiro, pelo simples fato de não existirem mentes e almas clonados. Cada ser humano torna-se único por sua herança genética, suas interações com o ambiente e seus dotes espirituais, o que nos remete invariavelmente à instabilidade das relações entre diferentes. É a ética, com o seu conceito de direito e dever, e, sobretudo, o amor, em seu potencial de aceitação da vida, que nos levam a contornar os obstáculos naturais ao entendimento e à parceria.
Nem mesmo Jesus escapou a essa contingência da caminhada humana. Seus pais não entenderam de pronto sua opção de vida e, em certo momento, piedosamente o julgaram louco. Seus irmãos, em algumas ocasiões, mobilizaram-se para contê-lo. Com Ghandi, o apóstolo hindu, a dificuldade maior foi com um filho que, em um surto egóico de “carência”, escreveu um artigo na imprensa para desmascarar o pai, que dedicara sua vida a um projeto coletivo.
A verdade é que ninguém está fora de sua “família espiritual”. A vida sempre nos coloca no lugar e na circunstância onde podemos aprender e ensinar. Cada situação é específica e nos pede ação apropriada. O importante é que, à maneira dos grandes mestres, o sim ou o não, a doçura ou a firmeza, a renúncia ou enfrentamento sempre aconteçam sob a motivação do amor, fonte e razão da vida.

"Não temas"
A passagem do papa Francisco pelo Brasil, na semana passada, já é um marco na história do catolicismo e, talvez, na das religiões. Exceto os festivais hinduístas, como o Khumba Mela, que a cada doze anos chega a reunir até 70 milhões de devotos, não se viu nas últimas décadas uma demonstração de fé tão grande e tão densa quanto a que emergiu da Jornada Mundial da Juventude realizada no Rio de Janeiro. O êxito do evento, no entanto, tem menos a ver com números e celebrações do que com a substância que lhe foi adicionada pela mensagem e pela postura do papa.
Francisco falou à sua igreja, mas seu recado tocou ao coração e à consciência de todos os que os professam alguma fé. Seu ponto forte: o resgate do sentido original e da força do Evangelho cristão, ocultado e adulterado na prática diária das religiões e dos religiosos em um mundo pontuado pelo egoísmo e a escravidão.
Não é novidade, no contexto cristão, exortar os crentes a expressar sua fé pelas obras, livrar-se do clericalismo e a manifestar seu amor em partilha com os pobres. Este é um ensinamento literal de Jesus para quem o reino (isto é, a bem-aventurança) é a recompensa natural de quem é capaz de alimentar o faminto, vestir o nu, acolher o sem teto, aliviar o doente e visitar o prisioneiro, conforme o registro do evangelista Mateus.
A primeira igreja, a do Caminho, erguida por Pedro à margem de uma estrada, fazia isso noite e dia. Se trocamos essa experiência basilar pelas versões contemporâneas das igrejas-empresas e do evangelho da prosperidade individual é porque nos deixamos enredar pela pulsão egóica e sua mensagem permanente de carência e medo.
É significativo que, em quase todas as suas falas no Rio, o papa tenha pedido aos católicos e, sobretudo aos jovens, para não terem medo. No Evangelho, nenhuma advertência é tão enfática e nem repetida tantas vezes: “Não temas”. E aqui, mais uma vez, nos encontramos diante de um ensinamento essencial para todas as religiões nesses dias de sorrateiro materialismo espiritual.
Impressiona-me o fato de encontrarmos justamente entre os que professam alguma fé tantas pessoas contidas pelo medo, encarceradas em seu mundo mesquinho de projetos pessoais, sempre assustadas com fantasmas que rondam suas fortalezas vulneráveis. Sem o saber, realimentam a roda do temor – alicerce de um mundo corrupto baseado em “necessidades” e consumo – e fortalecem todas as formas e níveis de violência, a expressão reativa do medo.
O medo patológico de nossos dias é a grande sinalização da escassez de amor em nós e nas estruturas sociais que sustentamos, o que torna o apelo de Francisco urgente e indispensável.
Deus é amor e onde há amor não há medo, dizia o apóstolo João. Podemos acrescentar: não há também injustiça e nem violência, pois é da coragem do amor que nasce um mundo equânime e pacífico.
30/07/2013
A passagem do papa Francisco pelo Brasil, na semana passada, já é um marco na história do catolicismo e, talvez, na das religiões. Exceto os festivais hinduístas, como o Khumba Mela, que a cada doze anos chega a reunir até 70 milhões de devotos, não se viu nas últimas décadas uma demonstração de fé tão grande e tão densa quanto a que emergiu da Jornada Mundial da Juventude realizada no Rio de Janeiro. O êxito do evento, no entanto, tem menos a ver com números e celebrações do que com a substância que lhe foi adicionada pela mensagem e pela postura do papa.
Francisco falou à sua igreja, mas seu recado tocou ao coração e à consciência de todos os que os professam alguma fé. Seu ponto forte: o resgate do sentido original e da força do Evangelho cristão, ocultado e adulterado na prática diária das religiões e dos religiosos em um mundo pontuado pelo egoísmo e a escravidão.
Não é novidade, no contexto cristão, exortar os crentes a expressar sua fé pelas obras, livrar-se do clericalismo e a manifestar seu amor em partilha com os pobres. Este é um ensinamento literal de Jesus para quem o reino (isto é, a bem-aventurança) é a recompensa natural de quem é capaz de alimentar o faminto, vestir o nu, acolher o sem teto, aliviar o doente e visitar o prisioneiro, conforme o registro do evangelista Mateus.
A primeira igreja, a do Caminho, erguida por Pedro à margem de uma estrada, fazia isso noite e dia. Se trocamos essa experiência basilar pelas versões contemporâneas das igrejas-empresas e do evangelho da prosperidade individual é porque nos deixamos enredar pela pulsão egóica e sua mensagem permanente de carência e medo.
É significativo que, em quase todas as suas falas no Rio, o papa tenha pedido aos católicos e, sobretudo aos jovens, para não terem medo. No Evangelho, nenhuma advertência é tão enfática e nem repetida tantas vezes: “Não temas”. E aqui, mais uma vez, nos encontramos diante de um ensinamento essencial para todas as religiões nesses dias de sorrateiro materialismo espiritual.
Impressiona-me o fato de encontrarmos justamente entre os que professam alguma fé tantas pessoas contidas pelo medo, encarceradas em seu mundo mesquinho de projetos pessoais, sempre assustadas com fantasmas que rondam suas fortalezas vulneráveis. Sem o saber, realimentam a roda do temor – alicerce de um mundo corrupto baseado em “necessidades” e consumo – e fortalecem todas as formas e níveis de violência, a expressão reativa do medo.
O medo patológico de nossos dias é a grande sinalização da escassez de amor em nós e nas estruturas sociais que sustentamos, o que torna o apelo de Francisco urgente e indispensável.
Deus é amor e onde há amor não há medo, dizia o apóstolo João. Podemos acrescentar: não há também injustiça e nem violência, pois é da coragem do amor que nasce um mundo equânime e pacífico.

Os jovens e a utopia cristã
O escritor e ativista social Frei Betto costuma dizer que a droga tornou-se epidêmica em vasta parcela dos jovens brasileiros porque falta a estes uma utopia. Assino embaixo. No passado, multidões juvenis sonharam com uma sociedade justa e perfeita e, por essa causa, enfrentaram poderosos e derrubaram impérios. Não há tempo – nem motivação – para viajar na droga quando se está imerso na viagem fantástica da construção de uma nova era.
A utopia, no sentido de situação ideal em que vigorem instituições equânimes, sempre nos remete ao coletivo, à preocupação com o outro, ao senso de justiça. Na droga prevalece a corrupção do ideal do absoluto, em meio à ilusão de que o indivíduo basta a si mesmo e o seu prazer, ainda que fuga da frustração e da dor, é a meta de uma vida.
O delírio utópico atravessa o tempo, alterando estruturas, movido por crenças e teorias. Catalizado por ideologias, ganha força e, também por causa delas, conhece em seguida o declínio, sabotado pelas pulsões egóicas no jogo do poder. Ergue e derruba regimes políticos e altera paradigmas e logo se perde na armadilha das fórmulas e formas para renascer mais à frente em novo ciclo criativo.
A utopia fez surgirem heróis e mártires e expôs à luz a força e a ternura incomensuráveis da condição humana. Mas, com todo o respeito aos delirantes de outros matizes, penso que nenhuma utopia, até hoje, foi maior e mais demolidora que a do jovem judeu que anunciou um reino.
A proposta de Jesus é radical e isso explica o seu destino trágico na cruz. Ela mina as bases do poder temporal e a do poder clerical, sustentado por ideologias religiosas. É trator que não deixa pedra sobre pedra do edifício de nossas crenças e valores convencionais.
A verdade é que não há como ser cristão sem incomodar o mundo, aqui entendido como a lógica que cria e sustenta os sistemas abomináveis que discriminam, manipulam e oprimem os homens. Para os que não crêem somos loucos, já dizia o apóstolo Paulo. A mensagem cristã é inclusiva, o reino é o abraço à natureza, um fazer-se um com todos e com Deus.
O reino é plenitude no frescor e na simplicidade da vida, eterna partilha na qual os dons do amor se multiplicam. E isso não atende aos interesses do mundo, que se alimenta da carência e do medo, na cela imensa da avareza.
Não sou católico, mas emociono-me com a atual Jornada Mundial da Juventude em torno de um papa que, inspirado no “louco” de Assis, parece esforçar-se por retirar sua igreja do pântano em que se meteu ao se deixar seduzir pelo império desafiado nos tempos apostólicos por um exército de excluídos.
A utopia cristã não morreu e, penso, jamais morrerá. Apóstolos e mártires sempre brotaram no altar da vida. Ver, no entanto, tantos jovens dispostos a sonhar e a agir, como o fez Francisco de Assis há 800 anos, renova-nos na coragem e na alegria de viver.
23/07/2013
O escritor e ativista social Frei Betto costuma dizer que a droga tornou-se epidêmica em vasta parcela dos jovens brasileiros porque falta a estes uma utopia. Assino embaixo. No passado, multidões juvenis sonharam com uma sociedade justa e perfeita e, por essa causa, enfrentaram poderosos e derrubaram impérios. Não há tempo – nem motivação – para viajar na droga quando se está imerso na viagem fantástica da construção de uma nova era.
A utopia, no sentido de situação ideal em que vigorem instituições equânimes, sempre nos remete ao coletivo, à preocupação com o outro, ao senso de justiça. Na droga prevalece a corrupção do ideal do absoluto, em meio à ilusão de que o indivíduo basta a si mesmo e o seu prazer, ainda que fuga da frustração e da dor, é a meta de uma vida.
O delírio utópico atravessa o tempo, alterando estruturas, movido por crenças e teorias. Catalizado por ideologias, ganha força e, também por causa delas, conhece em seguida o declínio, sabotado pelas pulsões egóicas no jogo do poder. Ergue e derruba regimes políticos e altera paradigmas e logo se perde na armadilha das fórmulas e formas para renascer mais à frente em novo ciclo criativo.
A utopia fez surgirem heróis e mártires e expôs à luz a força e a ternura incomensuráveis da condição humana. Mas, com todo o respeito aos delirantes de outros matizes, penso que nenhuma utopia, até hoje, foi maior e mais demolidora que a do jovem judeu que anunciou um reino.
A proposta de Jesus é radical e isso explica o seu destino trágico na cruz. Ela mina as bases do poder temporal e a do poder clerical, sustentado por ideologias religiosas. É trator que não deixa pedra sobre pedra do edifício de nossas crenças e valores convencionais.
A verdade é que não há como ser cristão sem incomodar o mundo, aqui entendido como a lógica que cria e sustenta os sistemas abomináveis que discriminam, manipulam e oprimem os homens. Para os que não crêem somos loucos, já dizia o apóstolo Paulo. A mensagem cristã é inclusiva, o reino é o abraço à natureza, um fazer-se um com todos e com Deus.
O reino é plenitude no frescor e na simplicidade da vida, eterna partilha na qual os dons do amor se multiplicam. E isso não atende aos interesses do mundo, que se alimenta da carência e do medo, na cela imensa da avareza.
Não sou católico, mas emociono-me com a atual Jornada Mundial da Juventude em torno de um papa que, inspirado no “louco” de Assis, parece esforçar-se por retirar sua igreja do pântano em que se meteu ao se deixar seduzir pelo império desafiado nos tempos apostólicos por um exército de excluídos.
A utopia cristã não morreu e, penso, jamais morrerá. Apóstolos e mártires sempre brotaram no altar da vida. Ver, no entanto, tantos jovens dispostos a sonhar e a agir, como o fez Francisco de Assis há 800 anos, renova-nos na coragem e na alegria de viver.

Doze pérolas gregas
Uma das lembranças mais agradáveis de minha infância é a chamada Folhinha do Coração de Jesus, o calendário constituído de uma estampa católica à qual era colado um bloco de pequenas páginas para serem destacadas de acordo com o passar dos dias. Além da data, em letras gigantes, as folhas do calendário traziam informações úteis para o cotidiano, receitas, versículos do Evangelho e citações de filósofos e místicos para a meditação matinal.
Meu prazer era destacar as folhas e apresentá-las à minha avó materna, quando esta se encontrava em visita à minha casa, para ouvir-lhe a explicação da frase do dia. A precisão das citações e a exegese da velhinha mergulhavam minha mente em seus primeiros exercícios de abstração e compreensão do mundo além dos sentidos físicos.
Introduzida no Brasil pelos franciscanos, a Folhinha do Sagrado Coração ainda resiste aos novos tempos barulhentos e avessos à reflexão. Em 2014 comemorará 75 anos, mas, apesar de ter ganhado uma versão digital, inevitável, e de manter a tradicional versão impressa, perdeu o brilho e o alcance de sua era de ouro, quando chegou a tirar 1,3 milhão de exemplares. Com a TV nos entretendo com nulidades culturais e a crônica da violência já na primeira hora do dia, falta espaço em nossas casas para uma criança reflexiva e uma vovó instrutora.
Na manhã desta segunda-feira, recordo e devaneio. E por que estas lembranças? Por que o lamento? Um presente singelo e significativo que acabo de receber de uma amiga que retornou de Atenas empurrou-me para esta viagem no tempo.
Aqui, em minhas mãos, um calendário de 2014 reúne 12 pérolas de pensadores, dramaturgos e historiadores que fizeram a glória da Grécia antiga, inspirando gerações para o pensar e o agir. E seria avareza não compartilhá-las com a minha avó e com você, meu caro leitor:
“Tudo que sei é que nada sei” (Sócrates).
“A felicidade é baseada na liberdade e esta se apoia na coragem” (Tucídides).
“Liberdade exagerada nada mais é que escravidão” (Platão).
“Ninguém é livre se não domina a si mesmo” (Pitágoras).
“Não vive aquele que vive só para si mesmo” (Menandro).
“É impossível ser feliz quando não se tem um propósito e uma ocupação” (Aristóteles).
“A felicidade provoca grande inveja” (Píndaro).
“Ou diga alguma coisa melhor que o silêncio ou silencie” (Eurípedes).
“Sábio não é quem conhece muito e sim quem conhece coisas úteis” (Ésquilo).
“A falta de experiência traz muito prejuízo” (Aristófanes).
“A contínua procrastinação é a razão de não existirem obras” (Demócrito).
“O que você diz determina o que você ouve” (Homero).
“A medicina é a mais nobre das ciências” (Hipócrates).
“O amor vence a guerra” (Sófocles).
Como diria Jesus, veja quem tem olhos, ouça quem tem ouvidos.
16/07/2013
Uma das lembranças mais agradáveis de minha infância é a chamada Folhinha do Coração de Jesus, o calendário constituído de uma estampa católica à qual era colado um bloco de pequenas páginas para serem destacadas de acordo com o passar dos dias. Além da data, em letras gigantes, as folhas do calendário traziam informações úteis para o cotidiano, receitas, versículos do Evangelho e citações de filósofos e místicos para a meditação matinal.
Meu prazer era destacar as folhas e apresentá-las à minha avó materna, quando esta se encontrava em visita à minha casa, para ouvir-lhe a explicação da frase do dia. A precisão das citações e a exegese da velhinha mergulhavam minha mente em seus primeiros exercícios de abstração e compreensão do mundo além dos sentidos físicos.
Introduzida no Brasil pelos franciscanos, a Folhinha do Sagrado Coração ainda resiste aos novos tempos barulhentos e avessos à reflexão. Em 2014 comemorará 75 anos, mas, apesar de ter ganhado uma versão digital, inevitável, e de manter a tradicional versão impressa, perdeu o brilho e o alcance de sua era de ouro, quando chegou a tirar 1,3 milhão de exemplares. Com a TV nos entretendo com nulidades culturais e a crônica da violência já na primeira hora do dia, falta espaço em nossas casas para uma criança reflexiva e uma vovó instrutora.
Na manhã desta segunda-feira, recordo e devaneio. E por que estas lembranças? Por que o lamento? Um presente singelo e significativo que acabo de receber de uma amiga que retornou de Atenas empurrou-me para esta viagem no tempo.
Aqui, em minhas mãos, um calendário de 2014 reúne 12 pérolas de pensadores, dramaturgos e historiadores que fizeram a glória da Grécia antiga, inspirando gerações para o pensar e o agir. E seria avareza não compartilhá-las com a minha avó e com você, meu caro leitor:
“Tudo que sei é que nada sei” (Sócrates).
“A felicidade é baseada na liberdade e esta se apoia na coragem” (Tucídides).
“Liberdade exagerada nada mais é que escravidão” (Platão).
“Ninguém é livre se não domina a si mesmo” (Pitágoras).
“Não vive aquele que vive só para si mesmo” (Menandro).
“É impossível ser feliz quando não se tem um propósito e uma ocupação” (Aristóteles).
“A felicidade provoca grande inveja” (Píndaro).
“Ou diga alguma coisa melhor que o silêncio ou silencie” (Eurípedes).
“Sábio não é quem conhece muito e sim quem conhece coisas úteis” (Ésquilo).
“A falta de experiência traz muito prejuízo” (Aristófanes).
“A contínua procrastinação é a razão de não existirem obras” (Demócrito).
“O que você diz determina o que você ouve” (Homero).
“A medicina é a mais nobre das ciências” (Hipócrates).
“O amor vence a guerra” (Sófocles).
Como diria Jesus, veja quem tem olhos, ouça quem tem ouvidos.

Uma estátua para Snowden
Como serão os dias futuros de Edward Snowden, o técnico em redes de computadores que denunciou ao mundo como os Estados Unidos monitoram as comunicações de seus cidadãos e de bilhões de pessoas em todo o planeta? Certamente não serão menos tensos que agora, quando encurralado numa sala de trânsito do aeroporto de Moscou, ele avalia as raras ofertas de asilo e estuda meios seguros de alcançar o destino.
Não é fácil desafiar um dinossauro, ainda que envelhecido e em curva de declínio. Isso exige a coragem de sacrificar-se. E, a julgar pelo que disse Snowden ao jornalista Gleen Greewald, a quem contou o que sabia sobre o trabalho sujo da Agência Nacional de Segurança (NSA), ele tem clara consciência do preço alto que pagará por sua atitude histórica.
A rigor, as informações de Snowden não impressionam pela natureza dos fatos. Já se suspeitava de tudo o que ele narrou e repassou, em explosivos pendrives, ao repórter free-lance do The Guardian londrino, um americano radicado no Rio de Janeiro. Era previsível que as agências de espionagem passassem a reproduzir no mundo virtual, com suas facilidades tecnológicas, as práticas ignominiosas de bisbilhotice tão caras ao poder em todas as épocas.
Os softwares Prism e Fairview, usados pela NSA, são a versão sofisticada do microfone instalado sob a cama, do grampo físico na linha telefônica analógica e, claro, do velho expediente de espiar pelo buraco da fechadura ou colar o ouvido à porta, consagrado pelas fofoqueiras do passado.
O que impressiona agora é a escala da espionagem, abrangendo o planeta, e o gigantismo dessa máquina, da qual participam, sob coerção ilegal ou mesmo colaboração, as grandes companhias de tecnologia e comunicações americanas, predominantes no oligopólio global persistente nesses setores.
A espionagem jamais respeitou fronteiras, mas a mobilidade e eficácia que alcançou com os recursos atuais e, sobretudo, sua aliança a provedores dos serviços mais confiáveis de uma sociedade livre extrapola a ficção do século 20 e nos acena com a derrocada de um dos mais sólidos pilares da democracria liberal: o direito à privacidade.
Para onde vamos?, repito a pergunta diante de mais um fenômeno de escala possibilitado pela Internet e sua profunda repercussão nos fundamentos de nossa sociedade. Também neste caso, a resposta é: ainda não sabemos.
Graças às redes e, sobretudo, ao idealismo corajoso de Snowden, novas máscaras caíram e veio à tona a similaridade das formas de poder, em sua ânsia de dominar. Na democracia formal, como nos estados totalitários, o poder sempre usará o medo para restringir a liberdade e submeter o sonho de muitos aos interesses de poucos.
Por desmascarar a hipocrisia, Edward Snowden não merece só asilo. Merece uma estátua de herói universal.
09/07/2013
Como serão os dias futuros de Edward Snowden, o técnico em redes de computadores que denunciou ao mundo como os Estados Unidos monitoram as comunicações de seus cidadãos e de bilhões de pessoas em todo o planeta? Certamente não serão menos tensos que agora, quando encurralado numa sala de trânsito do aeroporto de Moscou, ele avalia as raras ofertas de asilo e estuda meios seguros de alcançar o destino.
Não é fácil desafiar um dinossauro, ainda que envelhecido e em curva de declínio. Isso exige a coragem de sacrificar-se. E, a julgar pelo que disse Snowden ao jornalista Gleen Greewald, a quem contou o que sabia sobre o trabalho sujo da Agência Nacional de Segurança (NSA), ele tem clara consciência do preço alto que pagará por sua atitude histórica.
A rigor, as informações de Snowden não impressionam pela natureza dos fatos. Já se suspeitava de tudo o que ele narrou e repassou, em explosivos pendrives, ao repórter free-lance do The Guardian londrino, um americano radicado no Rio de Janeiro. Era previsível que as agências de espionagem passassem a reproduzir no mundo virtual, com suas facilidades tecnológicas, as práticas ignominiosas de bisbilhotice tão caras ao poder em todas as épocas.
Os softwares Prism e Fairview, usados pela NSA, são a versão sofisticada do microfone instalado sob a cama, do grampo físico na linha telefônica analógica e, claro, do velho expediente de espiar pelo buraco da fechadura ou colar o ouvido à porta, consagrado pelas fofoqueiras do passado.
O que impressiona agora é a escala da espionagem, abrangendo o planeta, e o gigantismo dessa máquina, da qual participam, sob coerção ilegal ou mesmo colaboração, as grandes companhias de tecnologia e comunicações americanas, predominantes no oligopólio global persistente nesses setores.
A espionagem jamais respeitou fronteiras, mas a mobilidade e eficácia que alcançou com os recursos atuais e, sobretudo, sua aliança a provedores dos serviços mais confiáveis de uma sociedade livre extrapola a ficção do século 20 e nos acena com a derrocada de um dos mais sólidos pilares da democracria liberal: o direito à privacidade.
Para onde vamos?, repito a pergunta diante de mais um fenômeno de escala possibilitado pela Internet e sua profunda repercussão nos fundamentos de nossa sociedade. Também neste caso, a resposta é: ainda não sabemos.
Graças às redes e, sobretudo, ao idealismo corajoso de Snowden, novas máscaras caíram e veio à tona a similaridade das formas de poder, em sua ânsia de dominar. Na democracia formal, como nos estados totalitários, o poder sempre usará o medo para restringir a liberdade e submeter o sonho de muitos aos interesses de poucos.
Por desmascarar a hipocrisia, Edward Snowden não merece só asilo. Merece uma estátua de herói universal.

Cidadania reativa
As “primaveras” políticas que se espalham pelo planeta, com manifestações populares gigantescas catalisadas a partir das redes sociais, serão alvo de estudos por muitos anos, talvez séculos, como um momento singular da humanidade. Nunca antes na história do mundo foi possível mobilizar tanta gente de um jeito anárquico, sem líderes consagrados, à revelia e, sobretudo, contra o aparato institucional da democracia representativa, no qual os partidos ocupam um lugar de destaque. Para onde vamos? Ainda não sabemos.
No futuro, certamente, milhões de gigabytes serão necessários para arquivar tantas teses e monografias sobre o que acontece hoje diante de nossos olhos. Mas daqui, desse espaço modesto e nada acadêmico, eu arrisco um palpite para os mestres e doutores que irão explicar o fenômeno: apenas o componente tecnológico da Internet, com o seu poder fantástico de aglutinar pessoas, é fator inédito e inovador na transição atual.
Os registros históricos comprovam que todas as rupturas políticas aconteceram com povo nas ruas e espasmos emocionais, em eventos mais ou menos administráveis. Nas revoluções, o caos sempre precede a nova ordem. As crises sociais, como a dos indivíduos, são as dores do parto de novas possibilidades.
Foi sempre assim na saga da civilização e, imagino, assim continuará, a menos que nos demos conta de um detalhe que influencia todo o resto: até aqui, multidões nas ruas sempre protagonizaram movimentos reativos. Os brados das passeatas e a violência dos levantes são respostas dos indivíduos ao que lhes foi oferecido antes e aceito passivamente enquanto, abdicando de seus deveres, eles se mantinham entretidos com projetos egoísticos e a omissão interesseira.
Temos aí um dado ideológico e uma crença básica que há de sabotar toda utopia, até que percebamos o óbvio: jamais haverá sociedade honesta se eu não for honesto nas coisas triviais; não haverá sociedade solidária se eu não for solidário com o irmão mais próximo; não haverá governantes íntegros se eu não ensinar integridade ao meu filho; não haverá sociedade participativa, se eu não participar na escola, na igreja, no sindicato, na ong e, vá lá, no partido político (ou algo que venha a substituí-lo), ajudando na definição de valores, prioridades e, principalmente, carregando pianos na rotina das ações.
Até aqui as manifestações reativas foram indispensáveis para desintegrar velhas estruturas. Mas é legítimo que, a essa altura, queiramos mais que um movimento de manada, passional como toda explosão de raiva. O sonho exige uma postura ativa. Um pouco mais até: proativa, com permanente criatividade e partilha.
Cedo ou tarde, com ou sem Internet, as passeatas se recolherão e o mundo novo logo envelhecerá se, como indivíduos, continuarmos a focar apenas o próprio umbigo.
02/07/2013
As “primaveras” políticas que se espalham pelo planeta, com manifestações populares gigantescas catalisadas a partir das redes sociais, serão alvo de estudos por muitos anos, talvez séculos, como um momento singular da humanidade. Nunca antes na história do mundo foi possível mobilizar tanta gente de um jeito anárquico, sem líderes consagrados, à revelia e, sobretudo, contra o aparato institucional da democracia representativa, no qual os partidos ocupam um lugar de destaque. Para onde vamos? Ainda não sabemos.
No futuro, certamente, milhões de gigabytes serão necessários para arquivar tantas teses e monografias sobre o que acontece hoje diante de nossos olhos. Mas daqui, desse espaço modesto e nada acadêmico, eu arrisco um palpite para os mestres e doutores que irão explicar o fenômeno: apenas o componente tecnológico da Internet, com o seu poder fantástico de aglutinar pessoas, é fator inédito e inovador na transição atual.
Os registros históricos comprovam que todas as rupturas políticas aconteceram com povo nas ruas e espasmos emocionais, em eventos mais ou menos administráveis. Nas revoluções, o caos sempre precede a nova ordem. As crises sociais, como a dos indivíduos, são as dores do parto de novas possibilidades.
Foi sempre assim na saga da civilização e, imagino, assim continuará, a menos que nos demos conta de um detalhe que influencia todo o resto: até aqui, multidões nas ruas sempre protagonizaram movimentos reativos. Os brados das passeatas e a violência dos levantes são respostas dos indivíduos ao que lhes foi oferecido antes e aceito passivamente enquanto, abdicando de seus deveres, eles se mantinham entretidos com projetos egoísticos e a omissão interesseira.
Temos aí um dado ideológico e uma crença básica que há de sabotar toda utopia, até que percebamos o óbvio: jamais haverá sociedade honesta se eu não for honesto nas coisas triviais; não haverá sociedade solidária se eu não for solidário com o irmão mais próximo; não haverá governantes íntegros se eu não ensinar integridade ao meu filho; não haverá sociedade participativa, se eu não participar na escola, na igreja, no sindicato, na ong e, vá lá, no partido político (ou algo que venha a substituí-lo), ajudando na definição de valores, prioridades e, principalmente, carregando pianos na rotina das ações.
Até aqui as manifestações reativas foram indispensáveis para desintegrar velhas estruturas. Mas é legítimo que, a essa altura, queiramos mais que um movimento de manada, passional como toda explosão de raiva. O sonho exige uma postura ativa. Um pouco mais até: proativa, com permanente criatividade e partilha.
Cedo ou tarde, com ou sem Internet, as passeatas se recolherão e o mundo novo logo envelhecerá se, como indivíduos, continuarmos a focar apenas o próprio umbigo.

Nova democracia
Em 31 de agosto de 2010 escrevi neste espaço um artigo com o título acima. Hoje, diante das manifestações que se espalham pelo país, impressiona-me como esse texto despretensioso permanece atual. Transcrevo-o a seguir:
“A democracia não é perfeita. Nada é perfeito.
Olhamos para a forma de organização que inspirou o nosso regime político - a participação popular em Atenas, na Grécia antiga - e a ainda hoje a tomamos como modelo ideal, inalcançável em nossa era de cidades superpopulosas. O formato grego era o da democracia direta, com o povo na praça interferindo sem rodeios na tomada de decisões, mas sua perfeição era só aparente. Apenas os cidadãos podiam votar e esse era um atributo dos atenienses natos, seus filhos e netos. Ficavam de fora as mulheres, os escravos e os mestiços, portanto, a maioria da sociedade.
A prática ocidental levou à democracia liberal representativa de nossos dias, inspirada nas revoluções francesa e americana e na experiência inglesa de governo. Mas esse modelo é vulnerável à manipulação e à corrupção, como provam os escândalos que abalam governos e parlamentos. Então, sempre voltamos a conjeturar sobre uma participação popular mais efetiva, algo que nos aproxime do ideal da democracia direta.
A boa notícia é que o velho sonho está mais perto da realização, graças à tecnologia e às formas de organização social na Internet. As ferramentas virtuais ajudam a gerar um novo tipo de comportamento em que as pessoas, além de pressionarem por transparência e abertura nas instituições, estão disponíveis para participar no ambiente livre e criativo das redes.
Recentemente, o documentário inglês “Us Now”, produzido pela Banyak Films, mostrou como redes online auto-organizadas têm desafiado as hierarquias verticais e influenciado as transformações nos processos de gestão. O filme apresenta instituições reinventadas dentro dessa nova cultura colaborativa, entre as quais um time de futebol totalmente administrado por torcedores e um banco onde cada cliente é o gerente. Mas é da longínqua Austrália que vem o primeiro exemplo no campo da política. Lá, um novo partido, o Senator Online (SOL), deve participar das eleições com uma proposta inédita: seus deputados se comprometem a seguir as decisões da maioria dos eleitores, apuradas no site da legenda, em todas as votações no Palarmento. Os eleitores serão esclarecidos sobre cada projeto, com argumentos a favor e contra. Com isso, o SOL espera dar voz às pessoas e reduzir a influência dos lobistas nas decisões do governo.
Parece o paraíso, mas ainda não é. A iniciativa australiana provoca os políticos e levanta temores sobre como as opiniões das minorias poderiam ser validadas ou como se poderia evitar uma calamidade social se, por exemplo, os eleitores aprovassem o fim de impostos indispensáveis. A possibilidade de escolhas desastrosas, ao sabor de paixões manipuladas pela propaganda e pelos demagogos, é um risco que exigirá habilidade máxima dos atores no palco dessa nascente democracia.”
25/06/2013
Em 31 de agosto de 2010 escrevi neste espaço um artigo com o título acima. Hoje, diante das manifestações que se espalham pelo país, impressiona-me como esse texto despretensioso permanece atual. Transcrevo-o a seguir:
“A democracia não é perfeita. Nada é perfeito.
Olhamos para a forma de organização que inspirou o nosso regime político - a participação popular em Atenas, na Grécia antiga - e a ainda hoje a tomamos como modelo ideal, inalcançável em nossa era de cidades superpopulosas. O formato grego era o da democracia direta, com o povo na praça interferindo sem rodeios na tomada de decisões, mas sua perfeição era só aparente. Apenas os cidadãos podiam votar e esse era um atributo dos atenienses natos, seus filhos e netos. Ficavam de fora as mulheres, os escravos e os mestiços, portanto, a maioria da sociedade.
A prática ocidental levou à democracia liberal representativa de nossos dias, inspirada nas revoluções francesa e americana e na experiência inglesa de governo. Mas esse modelo é vulnerável à manipulação e à corrupção, como provam os escândalos que abalam governos e parlamentos. Então, sempre voltamos a conjeturar sobre uma participação popular mais efetiva, algo que nos aproxime do ideal da democracia direta.
A boa notícia é que o velho sonho está mais perto da realização, graças à tecnologia e às formas de organização social na Internet. As ferramentas virtuais ajudam a gerar um novo tipo de comportamento em que as pessoas, além de pressionarem por transparência e abertura nas instituições, estão disponíveis para participar no ambiente livre e criativo das redes.
Recentemente, o documentário inglês “Us Now”, produzido pela Banyak Films, mostrou como redes online auto-organizadas têm desafiado as hierarquias verticais e influenciado as transformações nos processos de gestão. O filme apresenta instituições reinventadas dentro dessa nova cultura colaborativa, entre as quais um time de futebol totalmente administrado por torcedores e um banco onde cada cliente é o gerente. Mas é da longínqua Austrália que vem o primeiro exemplo no campo da política. Lá, um novo partido, o Senator Online (SOL), deve participar das eleições com uma proposta inédita: seus deputados se comprometem a seguir as decisões da maioria dos eleitores, apuradas no site da legenda, em todas as votações no Palarmento. Os eleitores serão esclarecidos sobre cada projeto, com argumentos a favor e contra. Com isso, o SOL espera dar voz às pessoas e reduzir a influência dos lobistas nas decisões do governo.
Parece o paraíso, mas ainda não é. A iniciativa australiana provoca os políticos e levanta temores sobre como as opiniões das minorias poderiam ser validadas ou como se poderia evitar uma calamidade social se, por exemplo, os eleitores aprovassem o fim de impostos indispensáveis. A possibilidade de escolhas desastrosas, ao sabor de paixões manipuladas pela propaganda e pelos demagogos, é um risco que exigirá habilidade máxima dos atores no palco dessa nascente democracia.”

Sabedoria de criança
Não fosse o amor um milagre que só acontece no solo sagrado do coração, eu diria que os governos deveriam decretar: todo homem maduro fica obrigado a manter sob sua guarda pelo menos uma criança menor de 10 anos. Quem não gerou filhos ou não conhece a graça de ter um neto que se apressasse em adotar um desses meninos e meninas que se expõem famintos nas ruas, a face mais cruel de nossa sociedade iníqua.
A justificativa do decreto, detalhada em dois itens, certamente soaria irrelevante para aqueles que, mergulhados em seus megaprojetos de riqueza e poder, sempre subestimam a singeleza e a ternura.
Item 1: apesar da crença contemporânea, utilitária e consumista, de que tudo o que é velho perdeu a serventia e deve ser descartado, é fato que as crianças carecem de beber na fonte da experiência dos idosos, assimilando lições de vida só transferidas sob o calor do afeto, na convivência respeitosa. Logo, não convém que cresçam à distância de um preceptor digno e paciente.
Item 2: desde sempre, o declínio do corpo e a escassez de forças deprimem o homem maduro, levando-o a refugiar-se na fortaleza do já aprendido, em angustiosa renúncia à inquietação criadora. E quem melhor do que uma criança, em seu insaciável desejo de descobrir o mundo, para chacoalhar um velho petrificado em certezas e tédios?
Um decreto assim, submetido a plebiscito, teria o meu o voto, sobretudo, por causa do citado item 2, aquele que me diz respeito e sobre o qual minha experiência diária elimina qualquer dúvida.
O corpo saudável, ainda sem ajuda de remédios, a excitação do jornalismo e minha prática espiritual além da rotina dogmática das religiões conduziram-me até aos 60 anos de idade razoavelmente disposto e com muita fé na vida, mas a verdade é que também sinto o peso dos anos e o declínio do corpo e, claro, a preguiça receosa com que estes nos sepultam. Se eu não pareço caído e perdido na mesmice, devo esta dádiva, principalmente, aos meus três netos (com destaque para a doce e irrequieta Yzabelle, que hoje aniversaria), incansáveis em suas provocações tão ingênuas e tão sábias.
“Vôri, onde é que eu estava antes de estar na barriga da mami?”. Com certeza, não precisamos mais que isso para refletir sobre o sentido da vida. “E se eu balançar a mão vou tocar em Deus?” Para explicar, haja metafísica... e física quântica também. “Os japoneses também são meus irmãos?” O mundo não seria o mesmo se respondêssemos a sério a essa pergunta. “Não avance o sinal, vôri. Você não diz que é preciso saber esperar?” Oh, minha doçura, me poupe diante dos meus leitores...
A criança é a mensagem de que Deus não perdeu a esperança nos homens, disse o grande Tagore. Pois eu digo: a criança é ajuda que Deus nos dá para morrermos cheios de vida.
18/06/2013
Não fosse o amor um milagre que só acontece no solo sagrado do coração, eu diria que os governos deveriam decretar: todo homem maduro fica obrigado a manter sob sua guarda pelo menos uma criança menor de 10 anos. Quem não gerou filhos ou não conhece a graça de ter um neto que se apressasse em adotar um desses meninos e meninas que se expõem famintos nas ruas, a face mais cruel de nossa sociedade iníqua.
A justificativa do decreto, detalhada em dois itens, certamente soaria irrelevante para aqueles que, mergulhados em seus megaprojetos de riqueza e poder, sempre subestimam a singeleza e a ternura.
Item 1: apesar da crença contemporânea, utilitária e consumista, de que tudo o que é velho perdeu a serventia e deve ser descartado, é fato que as crianças carecem de beber na fonte da experiência dos idosos, assimilando lições de vida só transferidas sob o calor do afeto, na convivência respeitosa. Logo, não convém que cresçam à distância de um preceptor digno e paciente.
Item 2: desde sempre, o declínio do corpo e a escassez de forças deprimem o homem maduro, levando-o a refugiar-se na fortaleza do já aprendido, em angustiosa renúncia à inquietação criadora. E quem melhor do que uma criança, em seu insaciável desejo de descobrir o mundo, para chacoalhar um velho petrificado em certezas e tédios?
Um decreto assim, submetido a plebiscito, teria o meu o voto, sobretudo, por causa do citado item 2, aquele que me diz respeito e sobre o qual minha experiência diária elimina qualquer dúvida.
O corpo saudável, ainda sem ajuda de remédios, a excitação do jornalismo e minha prática espiritual além da rotina dogmática das religiões conduziram-me até aos 60 anos de idade razoavelmente disposto e com muita fé na vida, mas a verdade é que também sinto o peso dos anos e o declínio do corpo e, claro, a preguiça receosa com que estes nos sepultam. Se eu não pareço caído e perdido na mesmice, devo esta dádiva, principalmente, aos meus três netos (com destaque para a doce e irrequieta Yzabelle, que hoje aniversaria), incansáveis em suas provocações tão ingênuas e tão sábias.
“Vôri, onde é que eu estava antes de estar na barriga da mami?”. Com certeza, não precisamos mais que isso para refletir sobre o sentido da vida. “E se eu balançar a mão vou tocar em Deus?” Para explicar, haja metafísica... e física quântica também. “Os japoneses também são meus irmãos?” O mundo não seria o mesmo se respondêssemos a sério a essa pergunta. “Não avance o sinal, vôri. Você não diz que é preciso saber esperar?” Oh, minha doçura, me poupe diante dos meus leitores...
A criança é a mensagem de que Deus não perdeu a esperança nos homens, disse o grande Tagore. Pois eu digo: a criança é ajuda que Deus nos dá para morrermos cheios de vida.

Deixem a luz do Sol entrar
Agora eu sei. Daqui a pouco, quando eu enviar este texto para a Redação, em algum lugar dos Estados Unidos um sinal surgirá na tela de um computador, ou soará um bipe, ou silenciosamente estas linhas serão capturadas e arquivadas numa pasta de atividades suspeitas.
E por que não? Acabo de escrever o nome Estados Unidos e logo farei referências a terror, bombas, Bin Laden... Não é assim, rastreando palavras chaves, que o Prism faz seu trabalho sujo de espionar milhões de americanos e, certamente, mais de um bilhão de usuários da Internet e da telefonia em todo o mundo?
Prism é o programa usado pela Agência Nacional de Segurança (NSA) para bisbilhotar, indiscriminadamente e sem ordem judicial, as comunicações de cidadãos americanos e de quem, como eu e você, vive a anos-luz das encrencas dos Estados Unidos devido à sua postura imperial.
O mundo ficou sabendo dessa indignidade graças à crise de consciência de um jovem de 29 anos, protótipo do espião do século 21, um nerd que se move ágil e imperceptível no labirinto das redes de computadores. Edward Snowden, ex-assistente técnico da CIA, a serviço da NSA, refugiou-se em Hong Kong e, de lá, denunciou o que sabia, sob uma justificativa irrepreensível: “Não quero viver em um mundo em que tudo é gravado. Não tenho nenhuma intenção de esconder quem eu sou porque sei que eu não fiz nada de errado, mas entendo que sofrerei por meus atos”.
Aí não deu mais para esconder. O presidente Obama admitiu: Google, Yahoo!, Microsoft, Apple, Facebook... as grandes empresas da Internet entregam tudo para o Tio Sam. A Verizon e o Skype revelam as ligações de seus clientes para o Big Brother. “Não dá para se ter 100% de segurança com 100% de privacidade”, disse Obama, atirando ao lixo o que ainda restava de sua pregação liberal. Cortinas, rápido. Escuridão.
Deixo de lado as análises políticas. O que me espanta é a loucura que o medo, este filho do egoísmo e da avareza, instala na rotina de indivíduos e de nações. Há um elo entre o tiro disparado pelo pai contra o filho que volta para casa na madrugada, por confundi-lo com o ladrão de seu pesadelo diário (você já viu isso na TV), e o estado policial que delira com inimigos onipresentes e atira a esmo contra a liberdade. Ambos, assustados e agarrados ao instinto de sobrevivência, perderam a fé na vida e nos princípios que a tornam justa e aceitável.
Não seria esse o objetivo final das bombas do terror? Gerar o medo e, com ele, a derrocada das melhores crenças e práticas? Que pretendia Bin Laden com o ataque às torres gêmeas senão que a América tremesse em seus fundamentos e o poder imperial mostrasse ao mundo o seu lado mais escuro?
Como no Vietnam, os EUA estão perdendo a guerra, mas insistem em sacrificar seus filhos e espargir napalm sobre os novos campos da Internet. Não há limite para o uso das mesmas armas do inimigo e outras ainda mais abjetas.
O que fazer? Talvez esta seja a hora de jovens destemidos, a exemplo daqueles que desafiaram o sistema nos anos 60, descartando seus valores, ocuparem de novo o National Mall de Washington e a calçada da Casa Branca e, ali, como na canção psicodélica de “Hair”, o musical, exigirem firme e ternamente: “Let the sunshine. Let the shushine in”. Senhores, deixem a luz do sol entrar!
11/06/2013
Agora eu sei. Daqui a pouco, quando eu enviar este texto para a Redação, em algum lugar dos Estados Unidos um sinal surgirá na tela de um computador, ou soará um bipe, ou silenciosamente estas linhas serão capturadas e arquivadas numa pasta de atividades suspeitas.
E por que não? Acabo de escrever o nome Estados Unidos e logo farei referências a terror, bombas, Bin Laden... Não é assim, rastreando palavras chaves, que o Prism faz seu trabalho sujo de espionar milhões de americanos e, certamente, mais de um bilhão de usuários da Internet e da telefonia em todo o mundo?
Prism é o programa usado pela Agência Nacional de Segurança (NSA) para bisbilhotar, indiscriminadamente e sem ordem judicial, as comunicações de cidadãos americanos e de quem, como eu e você, vive a anos-luz das encrencas dos Estados Unidos devido à sua postura imperial.
O mundo ficou sabendo dessa indignidade graças à crise de consciência de um jovem de 29 anos, protótipo do espião do século 21, um nerd que se move ágil e imperceptível no labirinto das redes de computadores. Edward Snowden, ex-assistente técnico da CIA, a serviço da NSA, refugiou-se em Hong Kong e, de lá, denunciou o que sabia, sob uma justificativa irrepreensível: “Não quero viver em um mundo em que tudo é gravado. Não tenho nenhuma intenção de esconder quem eu sou porque sei que eu não fiz nada de errado, mas entendo que sofrerei por meus atos”.
Aí não deu mais para esconder. O presidente Obama admitiu: Google, Yahoo!, Microsoft, Apple, Facebook... as grandes empresas da Internet entregam tudo para o Tio Sam. A Verizon e o Skype revelam as ligações de seus clientes para o Big Brother. “Não dá para se ter 100% de segurança com 100% de privacidade”, disse Obama, atirando ao lixo o que ainda restava de sua pregação liberal. Cortinas, rápido. Escuridão.
Deixo de lado as análises políticas. O que me espanta é a loucura que o medo, este filho do egoísmo e da avareza, instala na rotina de indivíduos e de nações. Há um elo entre o tiro disparado pelo pai contra o filho que volta para casa na madrugada, por confundi-lo com o ladrão de seu pesadelo diário (você já viu isso na TV), e o estado policial que delira com inimigos onipresentes e atira a esmo contra a liberdade. Ambos, assustados e agarrados ao instinto de sobrevivência, perderam a fé na vida e nos princípios que a tornam justa e aceitável.
Não seria esse o objetivo final das bombas do terror? Gerar o medo e, com ele, a derrocada das melhores crenças e práticas? Que pretendia Bin Laden com o ataque às torres gêmeas senão que a América tremesse em seus fundamentos e o poder imperial mostrasse ao mundo o seu lado mais escuro?
Como no Vietnam, os EUA estão perdendo a guerra, mas insistem em sacrificar seus filhos e espargir napalm sobre os novos campos da Internet. Não há limite para o uso das mesmas armas do inimigo e outras ainda mais abjetas.
O que fazer? Talvez esta seja a hora de jovens destemidos, a exemplo daqueles que desafiaram o sistema nos anos 60, descartando seus valores, ocuparem de novo o National Mall de Washington e a calçada da Casa Branca e, ali, como na canção psicodélica de “Hair”, o musical, exigirem firme e ternamente: “Let the sunshine. Let the shushine in”. Senhores, deixem a luz do sol entrar!

Crentes x Ateus
Há um aroma de cruzada no ar. Cruzada moderna, high-tech, que salta das trincheiras dos templos, academias e bares e se espalha pelos campos e vilas da Internet. Nessa batalha os que creem e os que não creem em Deus incendeiam a convivência cordial com uma sofisticada intolerância baseada em sofismas.
É uma guerra de crentes, pois mesmo o ateísmo, como diria o filósofo francês, ateu, André Comte-Sponville, “é uma crença negativa, um pensamento que se alimenta do vazio do seu objeto”. E como estamos diante de uma questão de fé, uma disputa passional, é fácil perceber a fragilidade dos argumentos com que esgrimem os combatentes.
É pobre, por exemplo, o raciocínio religioso de que ateus tendem a ser belicosos e mesquinhos pelo simples fato de não acreditarem em Deus. Embora as crenças condicionem atitudes, não há evidência histórica nem científica de que o senso ético só se mantém sobre a idéia de Deus e de recompensas e punições divinas.
Mais de 70% das populações dos países nórdicos se dizem ateus (na Suécia eles são 85%) e lá os índices de violência figuram entre os menores do mundo e praticamente não há discriminações nem desigualdades sociais iníquas. É um contraste escandaloso frente a países com alto índice de religiosidade, como o Brasil e o México, onde mais de 70% da população acreditam em Deus.
Mas é também insatisfatório usar a situação dos países nórdicos para assegurar que ateus são sempre mais pacíficos que religiosos. Se é verdade que, em nome da religião, muitos disseminaram o ódio e implantaram a guerra, vale lembrar que ateus convictos, como Stalin, Mao e Polpot, cometeram carnificinas colossais, com o endosso de uma elite política igualmente atéia.
Em ambos os argumentos descartam-se as condições materiais, políticas e outras condicionantes culturais de cada sociedade - sem falar no uso da religião como recurso de manipulação e subserviência ao poder -, simplificando-se conclusões para justificar esse ou aquele dogma.
Religiosos tendem a ter certezas e isso é mal para eles e para o resto. Quando não há a consciência socrática de “só sei que nada sei”, a tendência é que procuremos impor nossas “verdades” aos outros, estabelecendo a ignorância e o constrangimento. Mas que dizer dos ateus que usam o cientificismo para sofismar e propor o fim das religiões? Um ateísmo baseado nisso é cegueira e tolice, diria, de novo, Comte-Sponville. A ciência não explica tudo, a razão não explica tudo. “O cientificismo é a fossilização dogmática e religiosa dos incréus”.
Crentes e ateus na Internet lembram-me as torcidas organizadas em dias de excesso. Dentro e fora dos estádios, esse tipo de fanatismo já produziu desordens e mortes. Mas até agora, felizmente, ninguém propôs acabar com o futebol para conter um bando de loucos.
04/06/2013
Há um aroma de cruzada no ar. Cruzada moderna, high-tech, que salta das trincheiras dos templos, academias e bares e se espalha pelos campos e vilas da Internet. Nessa batalha os que creem e os que não creem em Deus incendeiam a convivência cordial com uma sofisticada intolerância baseada em sofismas.
É uma guerra de crentes, pois mesmo o ateísmo, como diria o filósofo francês, ateu, André Comte-Sponville, “é uma crença negativa, um pensamento que se alimenta do vazio do seu objeto”. E como estamos diante de uma questão de fé, uma disputa passional, é fácil perceber a fragilidade dos argumentos com que esgrimem os combatentes.
É pobre, por exemplo, o raciocínio religioso de que ateus tendem a ser belicosos e mesquinhos pelo simples fato de não acreditarem em Deus. Embora as crenças condicionem atitudes, não há evidência histórica nem científica de que o senso ético só se mantém sobre a idéia de Deus e de recompensas e punições divinas.
Mais de 70% das populações dos países nórdicos se dizem ateus (na Suécia eles são 85%) e lá os índices de violência figuram entre os menores do mundo e praticamente não há discriminações nem desigualdades sociais iníquas. É um contraste escandaloso frente a países com alto índice de religiosidade, como o Brasil e o México, onde mais de 70% da população acreditam em Deus.
Mas é também insatisfatório usar a situação dos países nórdicos para assegurar que ateus são sempre mais pacíficos que religiosos. Se é verdade que, em nome da religião, muitos disseminaram o ódio e implantaram a guerra, vale lembrar que ateus convictos, como Stalin, Mao e Polpot, cometeram carnificinas colossais, com o endosso de uma elite política igualmente atéia.
Em ambos os argumentos descartam-se as condições materiais, políticas e outras condicionantes culturais de cada sociedade - sem falar no uso da religião como recurso de manipulação e subserviência ao poder -, simplificando-se conclusões para justificar esse ou aquele dogma.
Religiosos tendem a ter certezas e isso é mal para eles e para o resto. Quando não há a consciência socrática de “só sei que nada sei”, a tendência é que procuremos impor nossas “verdades” aos outros, estabelecendo a ignorância e o constrangimento. Mas que dizer dos ateus que usam o cientificismo para sofismar e propor o fim das religiões? Um ateísmo baseado nisso é cegueira e tolice, diria, de novo, Comte-Sponville. A ciência não explica tudo, a razão não explica tudo. “O cientificismo é a fossilização dogmática e religiosa dos incréus”.
Crentes e ateus na Internet lembram-me as torcidas organizadas em dias de excesso. Dentro e fora dos estádios, esse tipo de fanatismo já produziu desordens e mortes. Mas até agora, felizmente, ninguém propôs acabar com o futebol para conter um bando de loucos.

RC, a Abril e a nossa mídia
Ao tomar conhecimento da morte de Roberto Civita, o RC, logo pensei em dedicar a ele e à Abril a coluna de hoje. Mesmo aposentado, sinto-me ligado por laços de respeito crítico e gratidão à Editora Abril, onde aprendi o melhor daquilo que me tornou um profissional do jornalismo. Eu queria escrever, mas...
O que eu poderia dizer com mais lucidez e emoção do que o jornalista Paulo Nogueira em seu texto publicado no DCM ( http://www.diariodocentrodomundo.com.br/roberto-civita-1936-2013 )? Faço minhas as palavras de Paulo, que transcrevo abaixo, parcialmente, na expectativa de levar você, amigo leitor, à leitura do texto integral:
“Não é fácil escrever sobre a morte de Roberto Civita, para mim. A Abril foi minha casa, a Abril foi minha escola, a Abril foi meu amor, com os altos e baixos de todas as paixões. E Roberto Civita era a Abril. (...)
RC carregou, desde logo, o inevitável fardo dos herdeiros. Você o tempo todo tem que provar – para você mesmo – que não é apenas filho de seu pai. Você o tempo todo procura se diferenciar de seu pai, e isto nem sempre é bom. (...)
No caso de Roberto Civita, ele acabou tendo um estilo de administração muito mais distante do que o de seu pai, o fundador Victor Civita. Seu Victor dirigia o próprio carro, e andava sempre pela empresa, com seu sorriso quilométrico e a simplicidade de quem você não vai estranhar se encontrar na feira. Roberto adotou um modelo mais distante de comandar a empresa. Isso se refletiu, sobretudo, em seus principais subordinados. (...)
Roberto teve um envolvimento com as revistas muito mais intenso, muito mais apaixonado e muito mais complexo do que o de seu pai. Isso trouxe coisas boas e coisas ruins. Um dono que ama visceralmente o negócio dá à comunidade um sentimento de orgulho considerável: estamos fazendo uma coisa incrível. Somos parte de um tremendo projeto.
Mas há, por outro lado, uma inevitável ocupação de um espaço que estava livre. Roberto Civita acabou pegando as revistas para si, sobretudo a Veja – com a qual ele teve uma relação de amor total, incondicional, à prova de tudo, como se fossem ambos Romeu e Julieta.
Com isso, o papel dos editores profissionais foi se tornando menor. Entendo que reside aí a explicação do que aconteceu nos últimos anos na Veja. Depois de duas grandes gestões, a de Mino Carta, primeiro, e a de JR Guzzo e Elio Gaspari depois, a Veja acabaria sendo entregue a editores que não fizeram os contrapontos indispensáveis a Roberto Civita. Curiosamente, era uma negação a uma máxima que RC gostava de repetir: “Uma revista é seu editor”.
A falta de contraponto acabaria levando a duas calamidades editoriais que destruiriam a aura de equilíbrio e pluralidade que foi a grande marca da Veja em seus anos de ouro.”
28/05/2013
Ao tomar conhecimento da morte de Roberto Civita, o RC, logo pensei em dedicar a ele e à Abril a coluna de hoje. Mesmo aposentado, sinto-me ligado por laços de respeito crítico e gratidão à Editora Abril, onde aprendi o melhor daquilo que me tornou um profissional do jornalismo. Eu queria escrever, mas...
O que eu poderia dizer com mais lucidez e emoção do que o jornalista Paulo Nogueira em seu texto publicado no DCM ( http://www.diariodocentrodomundo.com.br/roberto-civita-1936-2013 )? Faço minhas as palavras de Paulo, que transcrevo abaixo, parcialmente, na expectativa de levar você, amigo leitor, à leitura do texto integral:
“Não é fácil escrever sobre a morte de Roberto Civita, para mim. A Abril foi minha casa, a Abril foi minha escola, a Abril foi meu amor, com os altos e baixos de todas as paixões. E Roberto Civita era a Abril. (...)
RC carregou, desde logo, o inevitável fardo dos herdeiros. Você o tempo todo tem que provar – para você mesmo – que não é apenas filho de seu pai. Você o tempo todo procura se diferenciar de seu pai, e isto nem sempre é bom. (...)
No caso de Roberto Civita, ele acabou tendo um estilo de administração muito mais distante do que o de seu pai, o fundador Victor Civita. Seu Victor dirigia o próprio carro, e andava sempre pela empresa, com seu sorriso quilométrico e a simplicidade de quem você não vai estranhar se encontrar na feira. Roberto adotou um modelo mais distante de comandar a empresa. Isso se refletiu, sobretudo, em seus principais subordinados. (...)
Roberto teve um envolvimento com as revistas muito mais intenso, muito mais apaixonado e muito mais complexo do que o de seu pai. Isso trouxe coisas boas e coisas ruins. Um dono que ama visceralmente o negócio dá à comunidade um sentimento de orgulho considerável: estamos fazendo uma coisa incrível. Somos parte de um tremendo projeto.
Mas há, por outro lado, uma inevitável ocupação de um espaço que estava livre. Roberto Civita acabou pegando as revistas para si, sobretudo a Veja – com a qual ele teve uma relação de amor total, incondicional, à prova de tudo, como se fossem ambos Romeu e Julieta.
Com isso, o papel dos editores profissionais foi se tornando menor. Entendo que reside aí a explicação do que aconteceu nos últimos anos na Veja. Depois de duas grandes gestões, a de Mino Carta, primeiro, e a de JR Guzzo e Elio Gaspari depois, a Veja acabaria sendo entregue a editores que não fizeram os contrapontos indispensáveis a Roberto Civita. Curiosamente, era uma negação a uma máxima que RC gostava de repetir: “Uma revista é seu editor”.
A falta de contraponto acabaria levando a duas calamidades editoriais que destruiriam a aura de equilíbrio e pluralidade que foi a grande marca da Veja em seus anos de ouro.”

Salve-nos, Jorge!
Não sou noveleiro e não é por preconceito contra esse tipo de folhetim. Apenas falta-me tempo disponível para isso na escala de minhas ocupações. Ainda assim, a cada novela das nove, consigo assistir a trechos de alguns capítulos, o que me deixa em dia com o desenvolvimento do enredo e me torna hábil a prever o seu final.
Uma proeza? Claro que não. Até uma criança atenta é capaz de antecipar a sequência e o final de qualquer novela. Não há nada mais previsível que um folhetim de TV, apesar dos cosméticos eletrônicos que criam a falsa sensação de novidade por meio da troca de cenários, da fotografia esmerada e do “molho” sociológico adicionado a cada roteiro. E é justo aí, nesse molho, que mora o perigo.
Mais do que o propalado compromisso com a educação social e com a cidadania, esse tempero tem servido como recurso de estratégia comercial do qual resulta um barateamento da arte, a reprodução de clichês e o fortalecimento de práticas nocivas ao interesse coletivo.
Muitos entre os que viram a novela “Salve Jorge”, encerrada na última semana, devem ter se perguntado se no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, as pessoas não têm outra coisa a fazer senão beber cerveja Brahma o dia inteiro e armar “barracos”, gritando desaforos. Milhões podem até ter adotado esse estilo “malandro-assertivo” no dia a dia, já que, para a multidão, se surgiu na telinha é moda e dá status. Mas poucos, muito poucos, devem saber que a Ambev, nossa multinacional da cerveja, investiu milhões de reais na publicidade indireta dentro do enredo da novela (o conhecido “merchandising”), a fim de estimular o consumo de seu produto nas emergentes classes C e D.
Que importa se no Alemão a maioria das pessoas acorda às 5h e segue ligeiro para o trabalho duro, retorna à noite e tem pouco tempo para bebida e fofoca? Que importa se lá há vizinhos gentis e de fala mansa e se há garotas carinhosas que não aceitam descer à prostituição por fama e dinheiro? Que importa, afinal, se a banalização do consumo de bebidas alcoólicas pode contribuir para o alcoolismo entre adolescentes e até entre crianças?
Um comercial de 30 segundos na Rede Globo custa em torno de 500 mil reais por inserção em horário nobre. Agora imagine o valor de um merchandising de vários minutos, em seis dias da semana, durante oito meses no horário mais disputado da televisão e perceberá o poder de fogo de um patrocinador na adaptação de roteiros ao seu projeto de “merchan”.
A história mostra que a arte pode ser precursora e aliada das grandes transformações sociais. Logo, muito se poderia esperar da novela, a arte mais popular e mais acessível à maioria dos brasileiros. Mas o merchan e a pulsão popularesca no vale tudo por audiência parecem puxá-la cada vez mais para baixo, no pântano da fraude e do mau gosto.
21/05/2013
Não sou noveleiro e não é por preconceito contra esse tipo de folhetim. Apenas falta-me tempo disponível para isso na escala de minhas ocupações. Ainda assim, a cada novela das nove, consigo assistir a trechos de alguns capítulos, o que me deixa em dia com o desenvolvimento do enredo e me torna hábil a prever o seu final.
Uma proeza? Claro que não. Até uma criança atenta é capaz de antecipar a sequência e o final de qualquer novela. Não há nada mais previsível que um folhetim de TV, apesar dos cosméticos eletrônicos que criam a falsa sensação de novidade por meio da troca de cenários, da fotografia esmerada e do “molho” sociológico adicionado a cada roteiro. E é justo aí, nesse molho, que mora o perigo.
Mais do que o propalado compromisso com a educação social e com a cidadania, esse tempero tem servido como recurso de estratégia comercial do qual resulta um barateamento da arte, a reprodução de clichês e o fortalecimento de práticas nocivas ao interesse coletivo.
Muitos entre os que viram a novela “Salve Jorge”, encerrada na última semana, devem ter se perguntado se no Morro do Alemão, no Rio de Janeiro, as pessoas não têm outra coisa a fazer senão beber cerveja Brahma o dia inteiro e armar “barracos”, gritando desaforos. Milhões podem até ter adotado esse estilo “malandro-assertivo” no dia a dia, já que, para a multidão, se surgiu na telinha é moda e dá status. Mas poucos, muito poucos, devem saber que a Ambev, nossa multinacional da cerveja, investiu milhões de reais na publicidade indireta dentro do enredo da novela (o conhecido “merchandising”), a fim de estimular o consumo de seu produto nas emergentes classes C e D.
Que importa se no Alemão a maioria das pessoas acorda às 5h e segue ligeiro para o trabalho duro, retorna à noite e tem pouco tempo para bebida e fofoca? Que importa se lá há vizinhos gentis e de fala mansa e se há garotas carinhosas que não aceitam descer à prostituição por fama e dinheiro? Que importa, afinal, se a banalização do consumo de bebidas alcoólicas pode contribuir para o alcoolismo entre adolescentes e até entre crianças?
Um comercial de 30 segundos na Rede Globo custa em torno de 500 mil reais por inserção em horário nobre. Agora imagine o valor de um merchandising de vários minutos, em seis dias da semana, durante oito meses no horário mais disputado da televisão e perceberá o poder de fogo de um patrocinador na adaptação de roteiros ao seu projeto de “merchan”.
A história mostra que a arte pode ser precursora e aliada das grandes transformações sociais. Logo, muito se poderia esperar da novela, a arte mais popular e mais acessível à maioria dos brasileiros. Mas o merchan e a pulsão popularesca no vale tudo por audiência parecem puxá-la cada vez mais para baixo, no pântano da fraude e do mau gosto.

Que venham os cubanos
A crise moral que consolidou, entre nós, a religião do dinheiro e a servidão do trabalho mercenário deletou do exercício profissional o senso de missão que no passado elevou algumas profissões ao nível de sacerdócio. À vala comum da competição predatória foi atirada a dignidade do ofício e do salário.
Os códigos de ética caducaram e hoje não significam mais que um componente ritualístico em solenidades de formaturas que dizem pouco sobre a capacidade técnica dos formados e menos ainda sobre o seu espírito de serviço.
Respeitadas as exceções, a medicina é certamente o caso mais exemplar dessa degradação, agravada por um detalhe singular: o fato de ela estar interligada a interesses econômicos colossais. Um destes, a indústria farmacêutica, a mais poderosa e lucrativa do mundo depois da indústria de armas, praticamente guia e recicla médicos e parte das escolas de medicina. E, sem pudor, desvirtua o exercício da profissão com a distribuição de jabás e favores que estão por trás de muitos diagnósticos e receituários de uma prática focada na doença e não na sua prevenção. Outro é o chamado plano de saúde, cuja massificação do atendimento faz do trabalho do médico mero esforço mecânico em uma linha de produção.
É óbvio que o funcionamento dessa engrenagem imoral e a ganância de profissionais aéticos pedem uma concentração de clientela e de negócios só possível nos centros urbanos superpovoados. Ao interior, as moscas ou as anomalias constatáveis de norte a sul.
Ou seria normal uma prefeitura pagar até 16 mil reais de salário e conceder até quatro meses de férias a um médico recém-formado em troca de um expediente de 40 horas semanais que muitos não cumprem, ou porque dedicam metade do tempo a clínicas particulares que se apressam a instalar nos municípios que os acolheram ou porque passam metade da semana nas capitais, faturando em seus consultórios?
Considerar essa realidade da medicina brasileira nos leva a entender o porquê da gritaria corporativista contra a anunciada importação de médicos cubanos para amenizar a escassez de profissionais nos grotões do Brasil.
Os cubanos alcançaram a excelência na área da saúde apostando em medicina preventiva e atendimento familiar. Isto é eficaz: o povo cubano é saudável. Seu modelo de medicina é elogiado pela Organização Mundial de Saúde e atrai estagiários da Europa e mesmo dos Estados Unidos. Mas...
O modelo cubano é barato. Dispensa tantas drogas e o uso abusivo de tecnologias. Seus médicos, bem assistidos pelo governo, tem casa e transporte, mas não tem ganhos financeiros estratosféricos. A medicina cubana ainda tem um traço missionário.
Trazer essa gente para aqui, pelo menos do ponto de vista das corporações, é um péssimo precedente.
14/05/2013
A crise moral que consolidou, entre nós, a religião do dinheiro e a servidão do trabalho mercenário deletou do exercício profissional o senso de missão que no passado elevou algumas profissões ao nível de sacerdócio. À vala comum da competição predatória foi atirada a dignidade do ofício e do salário.
Os códigos de ética caducaram e hoje não significam mais que um componente ritualístico em solenidades de formaturas que dizem pouco sobre a capacidade técnica dos formados e menos ainda sobre o seu espírito de serviço.
Respeitadas as exceções, a medicina é certamente o caso mais exemplar dessa degradação, agravada por um detalhe singular: o fato de ela estar interligada a interesses econômicos colossais. Um destes, a indústria farmacêutica, a mais poderosa e lucrativa do mundo depois da indústria de armas, praticamente guia e recicla médicos e parte das escolas de medicina. E, sem pudor, desvirtua o exercício da profissão com a distribuição de jabás e favores que estão por trás de muitos diagnósticos e receituários de uma prática focada na doença e não na sua prevenção. Outro é o chamado plano de saúde, cuja massificação do atendimento faz do trabalho do médico mero esforço mecânico em uma linha de produção.
É óbvio que o funcionamento dessa engrenagem imoral e a ganância de profissionais aéticos pedem uma concentração de clientela e de negócios só possível nos centros urbanos superpovoados. Ao interior, as moscas ou as anomalias constatáveis de norte a sul.
Ou seria normal uma prefeitura pagar até 16 mil reais de salário e conceder até quatro meses de férias a um médico recém-formado em troca de um expediente de 40 horas semanais que muitos não cumprem, ou porque dedicam metade do tempo a clínicas particulares que se apressam a instalar nos municípios que os acolheram ou porque passam metade da semana nas capitais, faturando em seus consultórios?
Considerar essa realidade da medicina brasileira nos leva a entender o porquê da gritaria corporativista contra a anunciada importação de médicos cubanos para amenizar a escassez de profissionais nos grotões do Brasil.
Os cubanos alcançaram a excelência na área da saúde apostando em medicina preventiva e atendimento familiar. Isto é eficaz: o povo cubano é saudável. Seu modelo de medicina é elogiado pela Organização Mundial de Saúde e atrai estagiários da Europa e mesmo dos Estados Unidos. Mas...
O modelo cubano é barato. Dispensa tantas drogas e o uso abusivo de tecnologias. Seus médicos, bem assistidos pelo governo, tem casa e transporte, mas não tem ganhos financeiros estratosféricos. A medicina cubana ainda tem um traço missionário.
Trazer essa gente para aqui, pelo menos do ponto de vista das corporações, é um péssimo precedente.

Mate o Buda!
Um ditado zen aconselha o praticante: “Se encontrar o Buda no caminho, mate-o”. Buda é o iluminado, aquele que experimentou a realidade, o mestre por excelência. Se encontrar o seu mestre, mate-o.
Mesmo uma mente oriental, aparentemente menos aprisionada à visão dualística que nos impede de ver a natureza das coisas, espanta-se diante dessa proposição. Matar aquele que nos tem nutrido o espírito? Não seria ele digno de nossa eterna gratidão?
O significado da máxima é sutil e está ao alcance de poucos. Diz respeito ao mundo ilusório das formas e à imprecisão dos conceitos aos quais nos agarramos no casulo do ego. É a experiência que revelará a cada praticante o sentido do provérbio, mas, na tentativa de dizer o indizível, podemos afirmar que um Buda aparecendo no caminho só pode ser uma contrafação, uma fraude engendrada pela mente. O praticante é o Buda. Não há outro lá fora.
Lembro desse ensinamento, reafirmado com outras palavras por sábios e santos de diversas tradições – inclusive o cristianismo – ao deparar-me com o aquecido mercado da fé e da iluminação. Se não bastassem as igrejas pragmáticas, que anunciam milagres em troca de dízimos, impressiona-me a abundância de gurus e “coachers” a prometerem, a peso de ouro, fórmulas de equilíbrio e prosperidade, meros coquetéis analgésicos feitos com doses de sabedoria oriental misturadas ao mais puro utilitarismo.
Não é que o mundo não careça de arautos que nos ajudem a despertar. O que choca é a quantidade de Budas no caminho e o séquito de adoradores. Nenhum mestre morto, nenhum discípulo disposto a matá-los. Nenhum mestre com a coragem de um Krishnamurti, pronto para dizer não quero seguidores, libertem-se de mim (o que, no caso atual, significaria a derrocada de bons negócios). Nenhum discípulo interessado em sair da zona de conforto dos conselhos intermináveis para caminhar com os próprios pés.
É alvissareiro que, exaurido pelo materialismo, o mundo se volte para a espiritualidade, nossa verdadeira essência. É fato, porém, que a nova multidão de espiritualizados corre o risco de não realizar iluminação alguma, ao permanecer entretida com Budas na estrada de um efervescente materialismo espiritual, no qual se reproduzem as velhas instâncias do medo, da ânsia por um salvador que nos realize os desejos, da dependência emocional e, por último, do desencanto.
Ante a correria aos novos gurus pragmáticos, a americana Charlotte Joko Beck, autora do utilíssimo livro “Sempre Zen”, escreveu que, com todo o respeito pela pessoa humana, seu esforço para encontrá-los não iria além de cruzar a sala. “Só existe um professor: a própria vida. É um professor rígido e infinitamente gentil. E não é preciso ir a locais especiais para encontrar esse incomparável mestre”. Great, Charlotte!
07/05/2013
Um ditado zen aconselha o praticante: “Se encontrar o Buda no caminho, mate-o”. Buda é o iluminado, aquele que experimentou a realidade, o mestre por excelência. Se encontrar o seu mestre, mate-o.
Mesmo uma mente oriental, aparentemente menos aprisionada à visão dualística que nos impede de ver a natureza das coisas, espanta-se diante dessa proposição. Matar aquele que nos tem nutrido o espírito? Não seria ele digno de nossa eterna gratidão?
O significado da máxima é sutil e está ao alcance de poucos. Diz respeito ao mundo ilusório das formas e à imprecisão dos conceitos aos quais nos agarramos no casulo do ego. É a experiência que revelará a cada praticante o sentido do provérbio, mas, na tentativa de dizer o indizível, podemos afirmar que um Buda aparecendo no caminho só pode ser uma contrafação, uma fraude engendrada pela mente. O praticante é o Buda. Não há outro lá fora.
Lembro desse ensinamento, reafirmado com outras palavras por sábios e santos de diversas tradições – inclusive o cristianismo – ao deparar-me com o aquecido mercado da fé e da iluminação. Se não bastassem as igrejas pragmáticas, que anunciam milagres em troca de dízimos, impressiona-me a abundância de gurus e “coachers” a prometerem, a peso de ouro, fórmulas de equilíbrio e prosperidade, meros coquetéis analgésicos feitos com doses de sabedoria oriental misturadas ao mais puro utilitarismo.
Não é que o mundo não careça de arautos que nos ajudem a despertar. O que choca é a quantidade de Budas no caminho e o séquito de adoradores. Nenhum mestre morto, nenhum discípulo disposto a matá-los. Nenhum mestre com a coragem de um Krishnamurti, pronto para dizer não quero seguidores, libertem-se de mim (o que, no caso atual, significaria a derrocada de bons negócios). Nenhum discípulo interessado em sair da zona de conforto dos conselhos intermináveis para caminhar com os próprios pés.
É alvissareiro que, exaurido pelo materialismo, o mundo se volte para a espiritualidade, nossa verdadeira essência. É fato, porém, que a nova multidão de espiritualizados corre o risco de não realizar iluminação alguma, ao permanecer entretida com Budas na estrada de um efervescente materialismo espiritual, no qual se reproduzem as velhas instâncias do medo, da ânsia por um salvador que nos realize os desejos, da dependência emocional e, por último, do desencanto.
Ante a correria aos novos gurus pragmáticos, a americana Charlotte Joko Beck, autora do utilíssimo livro “Sempre Zen”, escreveu que, com todo o respeito pela pessoa humana, seu esforço para encontrá-los não iria além de cruzar a sala. “Só existe um professor: a própria vida. É um professor rígido e infinitamente gentil. E não é preciso ir a locais especiais para encontrar esse incomparável mestre”. Great, Charlotte!

Perdão - para dar e pedir
A ciência médica dispõe de estatísticas e estimativas que mostram os efeitos nocivos – e mesmo fatais – de certos hábitos do homem contemporâneo. São registros que, divulgados pela mídia, tornaram-se aceitos e compreendidos pela maioria das pessoas. Quem desconhece que gorduras animais e excesso de sal contribuem para as doenças do aparelho circulatório? Quem nunca ouviu falar que o sedentarismo pode causar o colapso do corpo? Até a relação entre estresse psicológico e desequilíbrio orgânico é agora um conhecimento universal.
Apesar disso, permanece quase oculta por uma cortina de silêncio a relação entre nossos sentimentos e doenças que roubam a qualidade de vida e apressam a morte. Quem tem consciência de que rancores e mágoas estão associados a alguns tipos de cânceres? Estudos científicos atestam a influência dos sentimentos mórbidos em inúmeros quadros patológicos, mas, talvez porque lidar com as nossas emoções sombrias seja um desafio tão difícil quanto acolher a morte, acabamos esquecendo que ninguém precisa de ciência para perceber em si mesmo os terríveis efeitos que sucedem as explosões de raiva ou que acompanham uma rotina de ódio ou amargura.
Bastaria essa simples constatação para elegermos como uma prioridade, na vida pessoal e na saúde pública, a prática do perdão. Mas, lamentavelmente, ainda é difícil entendermos essa virtude básica, realçada em todas as tradições espirituais, por considerá-la apenas uma norma ideal que confronta o nosso orgulho e não um recurso terapêutico e preventivo para o espírito e o corpo. A partir daí, uma série de equívocos em nossa visão do perdão impede que o adotemos como hábito saudável e trilha de libertação para uma alma aprisionada ao passado.
Perdoar, ao contrário do que se imagina, não é esquecer o mal que nos fizeram ou que cometemos. É impossível anular a memória por um ato de vontade. Não é também eximir o culpado da ação das leis que regem a sociedade ou os movimentos insondáveis da vida. Perdoar é compreender o mal e aquele que o cometeu – inclusive nós próprios – no contexto da condição humana e suas motivações em diferentes momentos e níveis evolutivos. É julgar como gostaríamos de ser julgados, levando em conta a intenção na ocasião do delito e, a partir desta, o nosso nível consciencial. É daí que emerge a compaixão e até a reconciliação com o agressor.
Conceder e pedir perdão, dois gestos libertadores, passam antes pelo reconhecimento de nossa humanidade e pelo exercício do autoperdão. É impossível ser compassivo com o próximo se nos aprisionamos a uma autoimagem orgulhosa e tola. Perdoar a si mesmo e ao outro, no entanto, rompe algemas poderosas que nos impedem de viver saudáveis e em paz.
30/04/2013
A ciência médica dispõe de estatísticas e estimativas que mostram os efeitos nocivos – e mesmo fatais – de certos hábitos do homem contemporâneo. São registros que, divulgados pela mídia, tornaram-se aceitos e compreendidos pela maioria das pessoas. Quem desconhece que gorduras animais e excesso de sal contribuem para as doenças do aparelho circulatório? Quem nunca ouviu falar que o sedentarismo pode causar o colapso do corpo? Até a relação entre estresse psicológico e desequilíbrio orgânico é agora um conhecimento universal.
Apesar disso, permanece quase oculta por uma cortina de silêncio a relação entre nossos sentimentos e doenças que roubam a qualidade de vida e apressam a morte. Quem tem consciência de que rancores e mágoas estão associados a alguns tipos de cânceres? Estudos científicos atestam a influência dos sentimentos mórbidos em inúmeros quadros patológicos, mas, talvez porque lidar com as nossas emoções sombrias seja um desafio tão difícil quanto acolher a morte, acabamos esquecendo que ninguém precisa de ciência para perceber em si mesmo os terríveis efeitos que sucedem as explosões de raiva ou que acompanham uma rotina de ódio ou amargura.
Bastaria essa simples constatação para elegermos como uma prioridade, na vida pessoal e na saúde pública, a prática do perdão. Mas, lamentavelmente, ainda é difícil entendermos essa virtude básica, realçada em todas as tradições espirituais, por considerá-la apenas uma norma ideal que confronta o nosso orgulho e não um recurso terapêutico e preventivo para o espírito e o corpo. A partir daí, uma série de equívocos em nossa visão do perdão impede que o adotemos como hábito saudável e trilha de libertação para uma alma aprisionada ao passado.
Perdoar, ao contrário do que se imagina, não é esquecer o mal que nos fizeram ou que cometemos. É impossível anular a memória por um ato de vontade. Não é também eximir o culpado da ação das leis que regem a sociedade ou os movimentos insondáveis da vida. Perdoar é compreender o mal e aquele que o cometeu – inclusive nós próprios – no contexto da condição humana e suas motivações em diferentes momentos e níveis evolutivos. É julgar como gostaríamos de ser julgados, levando em conta a intenção na ocasião do delito e, a partir desta, o nosso nível consciencial. É daí que emerge a compaixão e até a reconciliação com o agressor.
Conceder e pedir perdão, dois gestos libertadores, passam antes pelo reconhecimento de nossa humanidade e pelo exercício do autoperdão. É impossível ser compassivo com o próximo se nos aprisionamos a uma autoimagem orgulhosa e tola. Perdoar a si mesmo e ao outro, no entanto, rompe algemas poderosas que nos impedem de viver saudáveis e em paz.

Dois mundos
Os jornais e, sobretudo, a televisão rotularam de “dramática” a semana que passou. Dramático, no caso, quer dizer sinistro, terrível, algo marcado por catástrofe.
Lá fora a semana começou com a reaparição do terrorismo nos Estados Unidos. Aqui, nossas manchetes continuaram a jorrar explosões, arrastões, chacinas, grupos de extermínio e, claro, os velhos crimes do “colarinho branco”, aqueles praticados por gente engravatada e seus cúmplices na rapinagem de recursos públicos, cujos efeitos sobre os mais pobres são tão mortais quanto golpes de faca e tiros de revólver.
Dramático, no caso da semana passada, pode também ter uma conotação teatral e cinematográfica, afinal refere-se ao espetáculo da violência a que nos acostumaram a mídia e todos os interesses, políticos e econômicos, que se aproveitam da cultura do medo e da permanente catarse da massa.
Lá fora, uma região metropolitana de quatro milhões de habitantes foi paralisada por quase 48 horas e teve até o seu espaço aéreo fechado devido à caçada espalhafatosa a dois jovens loucos. Operação de guerra e cerca de 200 tiros disparados enquanto os cidadãos comuns tremiam de pavor ante o iminente fim do mundo.
Aqui, as imagens de cadáveres, a face dos sanguinários capturados, quase sempre pobres, e a histeria dos apresentadores na telinha, seguiram mergulhando-nos num interminável filme de ação em que berros e excesso de adrenalina não nos deixam ir além das reações espasmódicas, sempre incapazes de relacionar causa e consequência.
Quantos bilhões de dólares serão adicionados, a partir de agora, ao orçamento da estrutura antiterror dos Estados Unidos? Quanto o governo brasileiro gastará a mais na segurança da Copa, das Olimpíadas, da visita do papa...? Quanto milhões de cercas elétricas, de armas, de câmeras serão vendidas a mais? Quanta gente olhará mais desconfiada para o próximo, evitará um sorriso e exibirá seu lado rude porque o mundo – aqui e lá fora – está em chamas?
Não, este artigo não é uma peça a favor do terrorismo e nem da violência urbana. É só um pálido registro do nonsense e dos erros que cometemos quando, sob a cultura do medo, perdemos a capacidade de descobrir nos efeitos os seus reais motivos. Quando isso acontece, só a sombra se sobressai e, encurralados, esquecemos que toda escuridão só se dissolve na luz, também intrínseca à condição humana.
Na semana passada, enquanto a loucura dos irmãos Tsarnaev levou a maioria a tremer e a cerrar o punho, caminhando na madrugada do Recife, a 27ª cidade mais violenta do país, surpreendi-me ao encontrar outros jovens abraçando e alimentando mendigos, ouvindo-lhe as dores e cantando com eles. “Deixei as drogas e parei de roubar por causa desses meninos”, disse-me um dos assistidos. Então, eu percebi: o mundo pode estar em chamas, mas não está perdido.
23/04/2013
Os jornais e, sobretudo, a televisão rotularam de “dramática” a semana que passou. Dramático, no caso, quer dizer sinistro, terrível, algo marcado por catástrofe.
Lá fora a semana começou com a reaparição do terrorismo nos Estados Unidos. Aqui, nossas manchetes continuaram a jorrar explosões, arrastões, chacinas, grupos de extermínio e, claro, os velhos crimes do “colarinho branco”, aqueles praticados por gente engravatada e seus cúmplices na rapinagem de recursos públicos, cujos efeitos sobre os mais pobres são tão mortais quanto golpes de faca e tiros de revólver.
Dramático, no caso da semana passada, pode também ter uma conotação teatral e cinematográfica, afinal refere-se ao espetáculo da violência a que nos acostumaram a mídia e todos os interesses, políticos e econômicos, que se aproveitam da cultura do medo e da permanente catarse da massa.
Lá fora, uma região metropolitana de quatro milhões de habitantes foi paralisada por quase 48 horas e teve até o seu espaço aéreo fechado devido à caçada espalhafatosa a dois jovens loucos. Operação de guerra e cerca de 200 tiros disparados enquanto os cidadãos comuns tremiam de pavor ante o iminente fim do mundo.
Aqui, as imagens de cadáveres, a face dos sanguinários capturados, quase sempre pobres, e a histeria dos apresentadores na telinha, seguiram mergulhando-nos num interminável filme de ação em que berros e excesso de adrenalina não nos deixam ir além das reações espasmódicas, sempre incapazes de relacionar causa e consequência.
Quantos bilhões de dólares serão adicionados, a partir de agora, ao orçamento da estrutura antiterror dos Estados Unidos? Quanto o governo brasileiro gastará a mais na segurança da Copa, das Olimpíadas, da visita do papa...? Quanto milhões de cercas elétricas, de armas, de câmeras serão vendidas a mais? Quanta gente olhará mais desconfiada para o próximo, evitará um sorriso e exibirá seu lado rude porque o mundo – aqui e lá fora – está em chamas?
Não, este artigo não é uma peça a favor do terrorismo e nem da violência urbana. É só um pálido registro do nonsense e dos erros que cometemos quando, sob a cultura do medo, perdemos a capacidade de descobrir nos efeitos os seus reais motivos. Quando isso acontece, só a sombra se sobressai e, encurralados, esquecemos que toda escuridão só se dissolve na luz, também intrínseca à condição humana.
Na semana passada, enquanto a loucura dos irmãos Tsarnaev levou a maioria a tremer e a cerrar o punho, caminhando na madrugada do Recife, a 27ª cidade mais violenta do país, surpreendi-me ao encontrar outros jovens abraçando e alimentando mendigos, ouvindo-lhe as dores e cantando com eles. “Deixei as drogas e parei de roubar por causa desses meninos”, disse-me um dos assistidos. Então, eu percebi: o mundo pode estar em chamas, mas não está perdido.

Afinal, o que é opção sexual?
Um menino de 13 anos, escolarizado, provavelmente sabe mais sobre sexo do que o seu bisavô de 80 anos. Nosso conhecimento sobre a sexualidade humana deu um salto estratosférico nas últimas décadas, o que, em parte, contribuiu para a melhoria da qualidade de vida pela superação de preconceitos e tabus. Ainda assim, o território da sexualidade continua habitado por incontáveis mistérios e muitas ilusões de ótica. A sociedade “liberada” sexualmente segue tropeçando em conceitos e práticas equivocados que produzem mais dores que prazeres.
Quando estaremos aptos a desfrutar e a exercer (sim, isso também gera consequências!) nossa sexualidade com a mesma naturalidade com que respiramos e nos alimentamos? Quando, enfim, nossa vida sexual se livrará da culpa que sustenta as posturas radicais, da repressão apoiada em tabus aos espasmos compulsivos?
Se você observá-los com equidistância, vai perceber: há um elo que ata o puritano ao depravado. Ambos reagem a um desconforto interior que os impede de lidar em equilíbrio com a própria energia sexual. Entre as polaridades desse continuum ficamos nós, mergulhados na dificuldade de entender e viver nossa sexualidade, perdidos entre conceitos confusos.
Não fosse assim e já teríamos descartado a expressão “opção sexual”, tão recorrente na boca de liberais e conservadores, especialmente quando o tema é homossexualidade. Afinal, o que é isso? O que é opção sexual?
Você, leitor, saberia dizer quando e como optou por ser heterossexual? Como enfrentou o dilema de escolher entre deitar com mulheres ou com homens? E se você é homossexual, quando resolveu “orientar” sua sexualidade para ter prazer apenas com pessoas do mesmo sexo?
Obviamente ninguém conseguiria responder com honestidade a tais questões pelo simples fato de que - até onde alcançam os olhares da ciência - a sexualidade se apresenta não como resultante de um ato de vontade, mas uma construção lenta, e ainda misteriosa, a partir da interação provável de genes e, posteriormente, do sistema nervoso com o ambiente. A base desse edifício se consolida já na primeira infância, antes do sete anos, portanto, quando a criança ainda é inapta para avaliar e escolher.
Homossexualidade, como heterossexualidade, é condição e não opção. Nem mesmo é orientação, algo gerado sob uma influência exterior prevalente. Filhos de homossexuais (lembre-se: há homos também no casamento convencional), em sua maioria são héteros perfeitos e os homossexuais geralmente são filhos de heterossexuais plenos.
Opção sexual é expressão inadequada que serve ao preconceito e à discriminação de uma minoria. E isso só é superado quando vemos a sexualidade de cada pessoa (e não o seu comportamento) como uma expressão natural e aceitável.
16/04/2013
Um menino de 13 anos, escolarizado, provavelmente sabe mais sobre sexo do que o seu bisavô de 80 anos. Nosso conhecimento sobre a sexualidade humana deu um salto estratosférico nas últimas décadas, o que, em parte, contribuiu para a melhoria da qualidade de vida pela superação de preconceitos e tabus. Ainda assim, o território da sexualidade continua habitado por incontáveis mistérios e muitas ilusões de ótica. A sociedade “liberada” sexualmente segue tropeçando em conceitos e práticas equivocados que produzem mais dores que prazeres.
Quando estaremos aptos a desfrutar e a exercer (sim, isso também gera consequências!) nossa sexualidade com a mesma naturalidade com que respiramos e nos alimentamos? Quando, enfim, nossa vida sexual se livrará da culpa que sustenta as posturas radicais, da repressão apoiada em tabus aos espasmos compulsivos?
Se você observá-los com equidistância, vai perceber: há um elo que ata o puritano ao depravado. Ambos reagem a um desconforto interior que os impede de lidar em equilíbrio com a própria energia sexual. Entre as polaridades desse continuum ficamos nós, mergulhados na dificuldade de entender e viver nossa sexualidade, perdidos entre conceitos confusos.
Não fosse assim e já teríamos descartado a expressão “opção sexual”, tão recorrente na boca de liberais e conservadores, especialmente quando o tema é homossexualidade. Afinal, o que é isso? O que é opção sexual?
Você, leitor, saberia dizer quando e como optou por ser heterossexual? Como enfrentou o dilema de escolher entre deitar com mulheres ou com homens? E se você é homossexual, quando resolveu “orientar” sua sexualidade para ter prazer apenas com pessoas do mesmo sexo?
Obviamente ninguém conseguiria responder com honestidade a tais questões pelo simples fato de que - até onde alcançam os olhares da ciência - a sexualidade se apresenta não como resultante de um ato de vontade, mas uma construção lenta, e ainda misteriosa, a partir da interação provável de genes e, posteriormente, do sistema nervoso com o ambiente. A base desse edifício se consolida já na primeira infância, antes do sete anos, portanto, quando a criança ainda é inapta para avaliar e escolher.
Homossexualidade, como heterossexualidade, é condição e não opção. Nem mesmo é orientação, algo gerado sob uma influência exterior prevalente. Filhos de homossexuais (lembre-se: há homos também no casamento convencional), em sua maioria são héteros perfeitos e os homossexuais geralmente são filhos de heterossexuais plenos.
Opção sexual é expressão inadequada que serve ao preconceito e à discriminação de uma minoria. E isso só é superado quando vemos a sexualidade de cada pessoa (e não o seu comportamento) como uma expressão natural e aceitável.

A escola e o caráter
Leio na imprensa que os “cursinhos”, uma das vertentes mais lucrativas da “indústria da educação” (o clichê é para realçar a ruína da escola), estariam seduzindo retardatários ou simplesmente preguiçosos a comprarem diplomas do ensino fundamental e do segundo grau, graças à flexibilidade da legislação e ao descaso de autoridades, não raro associadas a interesses privados.
A reportagem informa que os cursinhos cobrariam taxas elevadas de seus “clientes” (é preciso usar a palavra adequada ao caso), a pretexto de transportá-los a um estado vizinho onde fariam as “provas” para obtenção do canudo. E aqui as aspas são outra vez necessárias, pois o negócio não se sustentaria sem a garantia de aprovação. A notícia também traz um esclarecimento: ninguém precisa pagar a um cursinho ou sair do estado para se submeter a um exame desse tipo. Ele é legal e é oferecido gratuitamente em nossa rede pública de ensino.
Entendo que essa flexibilização da lei existe para facilitar a vida de quem realmente não teve a chance de acesso à escola no tempo devido e para contemplar a inteligência de quem pode aprender como autodidata. Mas, como muitos outros critérios da educação nesses tempos de indústria da educação, esse instrumento acabou transformado em incentivo à indolência, à malandragem e mesmo à rapinagem dos espertos, sejam eles clientes ou provedores de serviço.
Cito esse episódio para, outra vez, questionar o tipo de escola, pública ou privada, movida apenas pela exigência de formar mão-de-obra para o mercado. Uma escola que, divorciada do velho objetivo de proporcionar às crianças e jovens uma educação integral, na qual cabem o ensino de valores éticos e o pensar a vida, enredou-se numa armadilha que a impede, inclusive, de cumprir sua finalidade imediatista: formar profissionais hábeis no manuseio das técnicas.
Há uma crise no ensino, todos dizem. Mas, ao contrário do que muitos enxergam, não acho que a causa primeira e a única solução desse imbróglio estejam no dinheiro (sua falta ou abundância), mas numa identidade perdida que conferia à escola um papel relevante na formação do caráter. Uma escola voltada só para as técnicas e para a “prosperidade” está na base da visão utilitarista de seus gestores públicos e privados, também eles saídos dos bancos de uma escola corrompida, para os quais palavras como produção e ganho (lícito ou ilícito) ecoam mais forte que missão e virtude.
É grave que isso aconteça justo num momento de desestruturação da família nuclear, a base tradicional da formação do caráter de um homem. Para as novas gerações, carentes de pais e de preceptores, sobrou a mídia, com o seu imenso potencial de comunicação capaz de influenciar pessoas e acelerar a marcha do mundo. Mas a mídia... Bom, meu espaço acabou.
09/04/2013
Leio na imprensa que os “cursinhos”, uma das vertentes mais lucrativas da “indústria da educação” (o clichê é para realçar a ruína da escola), estariam seduzindo retardatários ou simplesmente preguiçosos a comprarem diplomas do ensino fundamental e do segundo grau, graças à flexibilidade da legislação e ao descaso de autoridades, não raro associadas a interesses privados.
A reportagem informa que os cursinhos cobrariam taxas elevadas de seus “clientes” (é preciso usar a palavra adequada ao caso), a pretexto de transportá-los a um estado vizinho onde fariam as “provas” para obtenção do canudo. E aqui as aspas são outra vez necessárias, pois o negócio não se sustentaria sem a garantia de aprovação. A notícia também traz um esclarecimento: ninguém precisa pagar a um cursinho ou sair do estado para se submeter a um exame desse tipo. Ele é legal e é oferecido gratuitamente em nossa rede pública de ensino.
Entendo que essa flexibilização da lei existe para facilitar a vida de quem realmente não teve a chance de acesso à escola no tempo devido e para contemplar a inteligência de quem pode aprender como autodidata. Mas, como muitos outros critérios da educação nesses tempos de indústria da educação, esse instrumento acabou transformado em incentivo à indolência, à malandragem e mesmo à rapinagem dos espertos, sejam eles clientes ou provedores de serviço.
Cito esse episódio para, outra vez, questionar o tipo de escola, pública ou privada, movida apenas pela exigência de formar mão-de-obra para o mercado. Uma escola que, divorciada do velho objetivo de proporcionar às crianças e jovens uma educação integral, na qual cabem o ensino de valores éticos e o pensar a vida, enredou-se numa armadilha que a impede, inclusive, de cumprir sua finalidade imediatista: formar profissionais hábeis no manuseio das técnicas.
Há uma crise no ensino, todos dizem. Mas, ao contrário do que muitos enxergam, não acho que a causa primeira e a única solução desse imbróglio estejam no dinheiro (sua falta ou abundância), mas numa identidade perdida que conferia à escola um papel relevante na formação do caráter. Uma escola voltada só para as técnicas e para a “prosperidade” está na base da visão utilitarista de seus gestores públicos e privados, também eles saídos dos bancos de uma escola corrompida, para os quais palavras como produção e ganho (lícito ou ilícito) ecoam mais forte que missão e virtude.
É grave que isso aconteça justo num momento de desestruturação da família nuclear, a base tradicional da formação do caráter de um homem. Para as novas gerações, carentes de pais e de preceptores, sobrou a mídia, com o seu imenso potencial de comunicação capaz de influenciar pessoas e acelerar a marcha do mundo. Mas a mídia... Bom, meu espaço acabou.

Uma questão de talento
Há 44 anos escuto pessoas. E não me refiro aqui àquelas que entrevistei atuando como jornalista. Desde a adolescência, talvez em razão de minha prática espiritual, inspiro confiança a criaturas que, mergulhadas no mar revolto de seus conflitos, sentem a necessidade de abrir o coração para se aliviarem, tentar um conselho ou simplesmente obter um olhar compassivo. É com base nessa experiência que acredito serem as nossas frustrações resultado da falta de autoconhecimento e, sobretudo, da negação de nossas especificidades, aí incluídos os dons que recebemos da vida.
Em nossa época, balizada por “tendências” ditadas pelos agentes econômicos, esse desvio se tornou um problema de saúde pública. Há bilhões de indivíduos perdidos em movimentos de manada, buscando inserção em contextos efêmeros sem que isso lhes proporcione sequer uma migalha de autorealização - aquele sentimento de inteireza e contentamento que surge do exercício de uma missão que dá sentido e serventia às nossas vidas.
São pessoas que jamais pararam para ouvir a si mesmas e, por isso, também jamais estabeleceram um norte, um rumo para a própria caminhada. Provavelmente descerão à sepultura repetindo queixas e listando culpados, sob o clamor recorrente por um mundo perfeito que não ousaram construir.
A evidência dessa patologia se manifesta no número avassalador de profissionais despreparados e descomprometidos com o que fazem, no mercenarismo em áreas vitais da atividade humana, na nossa dificuldade em realizar trocas (inclusive afetivas), na explosão de gurus e personal assistants para nos guiarem em coisas triviais e, principalmente, nos sintomas de ansiedade e depressão que fazem o negócio dos psiquiatras e psicólogos.
Sim, num mundo superpovoado e interligado essa é uma questão crítica, mas não exclusiva da modernidade. O problema é antigo, diz respeito às pulsões egóicas, marcadas pelo medo, e à ignorância e a desconexão com a essência do ser, o self.
Na tradição cristã, ele aparece com clareza numa das mais importantes alegorias do evangelho: a parábola dos talentos. Ali, o senhor de uma propriedade que reparte talentos (moeda antiga) entre três empregados, para que eles os administrem na sua ausência, simboliza a vida em sua distribuição de dons e habilidades aos seres distintos de sua teia. A alguém podem ser confiados 10 talentos, a outro 5 e a outro um, diferenças que extrapolam o mero sentido quantitativo.
Na parábola, só o funcionário que recebeu um talento não multiplicou o recurso recebido. Ele não se sentiu aquinhoado, teve medo de arriscar o que lhe parecia pouco, enterrou a moeda e, no retorno do patrão, perdeu o emprego. Em vez de centrar em suas possibilidades de um jeito criativo, ele olhou para o lado, imaginou uma “tendência” e negou a si mesmo na imobilidade.
02/04/2013
Há 44 anos escuto pessoas. E não me refiro aqui àquelas que entrevistei atuando como jornalista. Desde a adolescência, talvez em razão de minha prática espiritual, inspiro confiança a criaturas que, mergulhadas no mar revolto de seus conflitos, sentem a necessidade de abrir o coração para se aliviarem, tentar um conselho ou simplesmente obter um olhar compassivo. É com base nessa experiência que acredito serem as nossas frustrações resultado da falta de autoconhecimento e, sobretudo, da negação de nossas especificidades, aí incluídos os dons que recebemos da vida.
Em nossa época, balizada por “tendências” ditadas pelos agentes econômicos, esse desvio se tornou um problema de saúde pública. Há bilhões de indivíduos perdidos em movimentos de manada, buscando inserção em contextos efêmeros sem que isso lhes proporcione sequer uma migalha de autorealização - aquele sentimento de inteireza e contentamento que surge do exercício de uma missão que dá sentido e serventia às nossas vidas.
São pessoas que jamais pararam para ouvir a si mesmas e, por isso, também jamais estabeleceram um norte, um rumo para a própria caminhada. Provavelmente descerão à sepultura repetindo queixas e listando culpados, sob o clamor recorrente por um mundo perfeito que não ousaram construir.
A evidência dessa patologia se manifesta no número avassalador de profissionais despreparados e descomprometidos com o que fazem, no mercenarismo em áreas vitais da atividade humana, na nossa dificuldade em realizar trocas (inclusive afetivas), na explosão de gurus e personal assistants para nos guiarem em coisas triviais e, principalmente, nos sintomas de ansiedade e depressão que fazem o negócio dos psiquiatras e psicólogos.
Sim, num mundo superpovoado e interligado essa é uma questão crítica, mas não exclusiva da modernidade. O problema é antigo, diz respeito às pulsões egóicas, marcadas pelo medo, e à ignorância e a desconexão com a essência do ser, o self.
Na tradição cristã, ele aparece com clareza numa das mais importantes alegorias do evangelho: a parábola dos talentos. Ali, o senhor de uma propriedade que reparte talentos (moeda antiga) entre três empregados, para que eles os administrem na sua ausência, simboliza a vida em sua distribuição de dons e habilidades aos seres distintos de sua teia. A alguém podem ser confiados 10 talentos, a outro 5 e a outro um, diferenças que extrapolam o mero sentido quantitativo.
Na parábola, só o funcionário que recebeu um talento não multiplicou o recurso recebido. Ele não se sentiu aquinhoado, teve medo de arriscar o que lhe parecia pouco, enterrou a moeda e, no retorno do patrão, perdeu o emprego. Em vez de centrar em suas possibilidades de um jeito criativo, ele olhou para o lado, imaginou uma “tendência” e negou a si mesmo na imobilidade.

Olho no olho
Há dez anos eu me surpreendia com o fato de amigos saírem às ruas portando dois ou três celulares que os mantinham num movimento frenético, atendendo a chamadas simultâneas enquanto permanecíamos à espera de uma migalha de sua atenção. Aí vieram os “duo chip”, os quais, se não alteraram a aflição dos ultra-antenados, pelo menos lhes permitiram reduzir os volumes nos bolsos e dispensar habilidades equilibristas para dizer um simples “alô”.
O alívio durou pouco. Logo nossos amigos perceberam que a novidade era insuficiente para aplacar sua sede de comunicação e os bolsos voltaram a ficar recheados. Não adiantou o lançamento de aparelhos com até quatro chips. Agora, além do celular, as pessoas também não desgrudam do Skype dos tablets, das redes sociais, do velho email e do bate-papo dos portais... Ali permanecem “ocupadas” e “importantes”, rodeadas de seguidores, exaustas, é verdade, mas com aquela sensação de inserção na modernidade.
Nossas vidas estão transcorrendo cada vez mais no ambiente virtual. Na Internet trabalhamos, comunicamo-nos, aprendemos, divertimo-nos, buscamos a cura de dores e até saímos à procura da realização afetiva, chegando ao extremo do sexo virtual (talvez a única forma de sexo seguro para humanos, embora as máquinas, coitadas!, possam ser infectadas por vírus).
Na net, tanto quanto no convívio com o celular, nossa ansiedade se impõe, sinalizando o vazio existencial que desesperadamente tentamos preencher.
Só na semana passada, recebi convites para reunir-me a amigos em quatro novas redes sociais, embora eu já os tenha ao meu lado no Twitter e no Facebook. Nossos bolsos virtuais estão abarrotados de avatares e plugins. Estamos no meio de multidões planetárias e, no entanto, sinalizamos uma imensa solidão, que, por paradoxo, no fundo queremos e buscamos.
E por que preferimos a comunicação virtual à real, aquela do olho no olho e do abraço caloroso? Certamente não é apenas porque, em razão de nossas prioridades, não mais dispomos de tempo ou porque as distâncias físicas esticaram.
A comunicação via aparelhos nos fascina e nos retém, principalmente, por que essa é a única instância onde podemos ter a ilusão de controle sobre o interlocutor, mantendo a conversa no limite de nosso desejo ou descartando-a de imediato. O celular pode ser desligado diante da mínima inconveniência. Nos bate-papos é possível mentir e clicar no botão “sair” logo que a fantasia deixa de produzir prazer efêmero. Com a webcam temos a ilusão de que, finalmente, podemos observar o outro sem aquela incômoda sensação de que o outro também nos ver por dentro.
Ah! egoísmo tolo e cruel que nos faz renunciar à vida, ao doce prazer de conviver e partilhar, sem medo, sob o brilho de um olhar humano real.
26/03/2013
Há dez anos eu me surpreendia com o fato de amigos saírem às ruas portando dois ou três celulares que os mantinham num movimento frenético, atendendo a chamadas simultâneas enquanto permanecíamos à espera de uma migalha de sua atenção. Aí vieram os “duo chip”, os quais, se não alteraram a aflição dos ultra-antenados, pelo menos lhes permitiram reduzir os volumes nos bolsos e dispensar habilidades equilibristas para dizer um simples “alô”.
O alívio durou pouco. Logo nossos amigos perceberam que a novidade era insuficiente para aplacar sua sede de comunicação e os bolsos voltaram a ficar recheados. Não adiantou o lançamento de aparelhos com até quatro chips. Agora, além do celular, as pessoas também não desgrudam do Skype dos tablets, das redes sociais, do velho email e do bate-papo dos portais... Ali permanecem “ocupadas” e “importantes”, rodeadas de seguidores, exaustas, é verdade, mas com aquela sensação de inserção na modernidade.
Nossas vidas estão transcorrendo cada vez mais no ambiente virtual. Na Internet trabalhamos, comunicamo-nos, aprendemos, divertimo-nos, buscamos a cura de dores e até saímos à procura da realização afetiva, chegando ao extremo do sexo virtual (talvez a única forma de sexo seguro para humanos, embora as máquinas, coitadas!, possam ser infectadas por vírus).
Na net, tanto quanto no convívio com o celular, nossa ansiedade se impõe, sinalizando o vazio existencial que desesperadamente tentamos preencher.
Só na semana passada, recebi convites para reunir-me a amigos em quatro novas redes sociais, embora eu já os tenha ao meu lado no Twitter e no Facebook. Nossos bolsos virtuais estão abarrotados de avatares e plugins. Estamos no meio de multidões planetárias e, no entanto, sinalizamos uma imensa solidão, que, por paradoxo, no fundo queremos e buscamos.
E por que preferimos a comunicação virtual à real, aquela do olho no olho e do abraço caloroso? Certamente não é apenas porque, em razão de nossas prioridades, não mais dispomos de tempo ou porque as distâncias físicas esticaram.
A comunicação via aparelhos nos fascina e nos retém, principalmente, por que essa é a única instância onde podemos ter a ilusão de controle sobre o interlocutor, mantendo a conversa no limite de nosso desejo ou descartando-a de imediato. O celular pode ser desligado diante da mínima inconveniência. Nos bate-papos é possível mentir e clicar no botão “sair” logo que a fantasia deixa de produzir prazer efêmero. Com a webcam temos a ilusão de que, finalmente, podemos observar o outro sem aquela incômoda sensação de que o outro também nos ver por dentro.
Ah! egoísmo tolo e cruel que nos faz renunciar à vida, ao doce prazer de conviver e partilhar, sem medo, sob o brilho de um olhar humano real.

Coisas de Francisco
E, de repente, o jovem de família abastada não vê mais sentido em sua rotina. O olhar terno sobre pobres e enfermos leva-o ao encontro inesperado. Ele delira e a voz lhe fala: “Francisco, reergue a minha igreja”. Com as próprias mãos, constrói a capelinha da Porciúncula. Então, a ficha cai: não são os templos, mas a igreja espiritual que está desabando. Poder e riqueza, interesses e intrigas já há séculos a afastam do ideal de simplicidade e fraternidade do Evangelho.
Eis a missão e, para cumprí-la, na clareza do jovem “louco”, basta imitar o Cristo no dia a dia. Francisco não quer ser padre e nem cardeal, não quer Ordem e nem aparato algum. Seu lugar é o mundo. Só por imposição de Roma, que na época proibia os leigos de pregar o Evangelho, torna-se diácono sem remuneração. Até o fim não capitula, mas morre sob a frustração de ver seu ideal absorvido e manipulado pelo poder da estrutura.
Francisco é meigo e vigoroso. Com seus fradinhos maltrapilhos, invade o reino do papa mais poderoso da história, Inocêncio III, para pedir-lhe a autorização para sua Ordem (única saída para realizar sua missão). Escandaliza o pontífice e os cardeais ao relembrar-lhes o Sermão do Monte e ao dizer que o estatuto de seu agrupamento de abnegados só precisa de um artigo: “A regra e a vida dos frades menores é observar o Evangelho”. E logo vira alvo da ironia dos orgulhosos gestores da igreja. Viver a mensagem de Jesus ao pé da letra no século 13? Ingenuidade. Isso é inviável. Francisco reage: pois que se rasgue o Evangelho e se diga ao povo a verdade.
Ao final, a força do espírito e a praticidade da política prevalecem. O papa cede. A igreja, então abalada pelas heresias dos valdenses e cátaros – de certa forma precursores do ideal de Francisco – teme perder de vez os pobres para um jovem avassalador em sua pobreza libertária, ternura e doação. Com o tempo, a estrutura se encarregaria de colocar, senão a ele, mas os seus seguidores, nos limites da segurança necessária à reprodução do poder e seu séquito.
Francisco queria que o dirigente de sua Ordem fosse o Espírito Santo. Não seria bastante? Tanta liberdade incomodaria até os seus companheiros. E o que dizer da Bíblia única da capela franciscana e da coroa da santa doadas para aplacar a fome de mães e filhos? Ora, ninguém precisa de Bíblia para viver o Evangelho, pensava. O crescimento da Ordem e as querelas de sempre o empurraram para a floresta, onde por mais de um ano permaneceu recluso e pensativo.
Morto, Francisco foi içado ao altar. Um santo verdadeiro só sobe ao altar depois de domesticado, o que, graças a Deus, só acontece após a sua morte, na manipulação da memória dos homens. É lá, no altar, que finalmente ele se torna inodoro e inofensivo.
Ainda assim foram necessários quase 800 anos para que um papa ousasse chamar-se Francisco, um nome carregado de força e compromisso.
19/03/2013
E, de repente, o jovem de família abastada não vê mais sentido em sua rotina. O olhar terno sobre pobres e enfermos leva-o ao encontro inesperado. Ele delira e a voz lhe fala: “Francisco, reergue a minha igreja”. Com as próprias mãos, constrói a capelinha da Porciúncula. Então, a ficha cai: não são os templos, mas a igreja espiritual que está desabando. Poder e riqueza, interesses e intrigas já há séculos a afastam do ideal de simplicidade e fraternidade do Evangelho.
Eis a missão e, para cumprí-la, na clareza do jovem “louco”, basta imitar o Cristo no dia a dia. Francisco não quer ser padre e nem cardeal, não quer Ordem e nem aparato algum. Seu lugar é o mundo. Só por imposição de Roma, que na época proibia os leigos de pregar o Evangelho, torna-se diácono sem remuneração. Até o fim não capitula, mas morre sob a frustração de ver seu ideal absorvido e manipulado pelo poder da estrutura.
Francisco é meigo e vigoroso. Com seus fradinhos maltrapilhos, invade o reino do papa mais poderoso da história, Inocêncio III, para pedir-lhe a autorização para sua Ordem (única saída para realizar sua missão). Escandaliza o pontífice e os cardeais ao relembrar-lhes o Sermão do Monte e ao dizer que o estatuto de seu agrupamento de abnegados só precisa de um artigo: “A regra e a vida dos frades menores é observar o Evangelho”. E logo vira alvo da ironia dos orgulhosos gestores da igreja. Viver a mensagem de Jesus ao pé da letra no século 13? Ingenuidade. Isso é inviável. Francisco reage: pois que se rasgue o Evangelho e se diga ao povo a verdade.
Ao final, a força do espírito e a praticidade da política prevalecem. O papa cede. A igreja, então abalada pelas heresias dos valdenses e cátaros – de certa forma precursores do ideal de Francisco – teme perder de vez os pobres para um jovem avassalador em sua pobreza libertária, ternura e doação. Com o tempo, a estrutura se encarregaria de colocar, senão a ele, mas os seus seguidores, nos limites da segurança necessária à reprodução do poder e seu séquito.
Francisco queria que o dirigente de sua Ordem fosse o Espírito Santo. Não seria bastante? Tanta liberdade incomodaria até os seus companheiros. E o que dizer da Bíblia única da capela franciscana e da coroa da santa doadas para aplacar a fome de mães e filhos? Ora, ninguém precisa de Bíblia para viver o Evangelho, pensava. O crescimento da Ordem e as querelas de sempre o empurraram para a floresta, onde por mais de um ano permaneceu recluso e pensativo.
Morto, Francisco foi içado ao altar. Um santo verdadeiro só sobe ao altar depois de domesticado, o que, graças a Deus, só acontece após a sua morte, na manipulação da memória dos homens. É lá, no altar, que finalmente ele se torna inodoro e inofensivo.
Ainda assim foram necessários quase 800 anos para que um papa ousasse chamar-se Francisco, um nome carregado de força e compromisso.

Eu quero é poesia
Cansaço. Cansaço físico que me impede de tecer fios de raciocínio, costurar palavras em torno de arcabouços lógicos na vã esperança de explicar o que não se explica: o real, aquilo que é, a essência por trás das formas frágeis e fugidias.
Cansaço. Bendito cansaço, depois tantos dias e noites lutando com bytes no esforço (inglório?) de construir um novo website.
Quem pode domar uma mente em surto produtivista, esquecida da atenção aos ciclos de trabalho e repouso, senão o corpo exaurido e ciente de seus limites? Para que a sofreguidão workaholic em torno de conceitos e formas, planos e argamassas e tanta expectativa de resultados?
A psicologia contemporânea já atestou que o trabalho em demasia é transtorno, é fuga. Não raro, escondemo-nos na atividade incessante para evitar o encontro conosco mesmo, aquela descida ao porão da alma que o sossego pode proporcionar. Isolamo-nos na fortaleza da produção, limando de nossa rotina a emoção, a interação afetiva, a introspecção que conduz à transcendência, a poesia mesmo da vida. Acabamos pobres de espírito e desgraçados.
As tradições espirituais também nos advertem sobre a insanidade de relegarmos o essencial sob o pretexto de que é necessário produzir. É esse o ensinamento que está, por exemplo, na parábola de Jesus sobre o milionário produtor rural que se empenha em abarrotar os seus celeiros para só depois desfrutar a vida: “Louco, esta noite pedirão a tua alma, e de que servirá o que acumulaste?” Como disse o monge católico Tomas Merton, que em vida tentou unir o cristianismo e as religiões orientais através do território comum da meditação, “o frenesi da nossa atividade destrói a frutificação do próprio trabalho porque mata a raiz da sabedoria que torna o trabalho frutífero”.
Cansaço, bendito cansaço que me recoloca na trilha do sossego, reconciliando-me com a beleza da vida.
O que eu quero agora? Poesia. Quero um poema transcendental, devoto e terno, que me devolva a consciência de que sou apenas parte, glorioso ponto de passagem na teia infinita da criação. Um poema que me livre do jugo de querer possuir e controlar, submeter e explorar, deixando-me pronto para a liberdade. Enfim, um poema de Rabindranath Tagore:
“Senhor, permite que de mim reste apenas aquele pouco com o qual eu possa chamar-te meu tudo / Permite que de minha vontade reste apenas aquele pouco com o qual eu possa te sentir em todo lugar, chegar a ti em cada coisa, e a cada momento oferecer-te meu amor / Permite que de mim reste apenas aquele pouco com o qual eu jamais possa te esconder / Permite que de minhas correntes reste apenas aquele pouco com o qual eu fique ligado à tua vontade, aquele pouco com o qual teu projeto se realiza em minha vida: a corrente de teu amor”.
12/03/2013
Cansaço. Cansaço físico que me impede de tecer fios de raciocínio, costurar palavras em torno de arcabouços lógicos na vã esperança de explicar o que não se explica: o real, aquilo que é, a essência por trás das formas frágeis e fugidias.
Cansaço. Bendito cansaço, depois tantos dias e noites lutando com bytes no esforço (inglório?) de construir um novo website.
Quem pode domar uma mente em surto produtivista, esquecida da atenção aos ciclos de trabalho e repouso, senão o corpo exaurido e ciente de seus limites? Para que a sofreguidão workaholic em torno de conceitos e formas, planos e argamassas e tanta expectativa de resultados?
A psicologia contemporânea já atestou que o trabalho em demasia é transtorno, é fuga. Não raro, escondemo-nos na atividade incessante para evitar o encontro conosco mesmo, aquela descida ao porão da alma que o sossego pode proporcionar. Isolamo-nos na fortaleza da produção, limando de nossa rotina a emoção, a interação afetiva, a introspecção que conduz à transcendência, a poesia mesmo da vida. Acabamos pobres de espírito e desgraçados.
As tradições espirituais também nos advertem sobre a insanidade de relegarmos o essencial sob o pretexto de que é necessário produzir. É esse o ensinamento que está, por exemplo, na parábola de Jesus sobre o milionário produtor rural que se empenha em abarrotar os seus celeiros para só depois desfrutar a vida: “Louco, esta noite pedirão a tua alma, e de que servirá o que acumulaste?” Como disse o monge católico Tomas Merton, que em vida tentou unir o cristianismo e as religiões orientais através do território comum da meditação, “o frenesi da nossa atividade destrói a frutificação do próprio trabalho porque mata a raiz da sabedoria que torna o trabalho frutífero”.
Cansaço, bendito cansaço que me recoloca na trilha do sossego, reconciliando-me com a beleza da vida.
O que eu quero agora? Poesia. Quero um poema transcendental, devoto e terno, que me devolva a consciência de que sou apenas parte, glorioso ponto de passagem na teia infinita da criação. Um poema que me livre do jugo de querer possuir e controlar, submeter e explorar, deixando-me pronto para a liberdade. Enfim, um poema de Rabindranath Tagore:
“Senhor, permite que de mim reste apenas aquele pouco com o qual eu possa chamar-te meu tudo / Permite que de minha vontade reste apenas aquele pouco com o qual eu possa te sentir em todo lugar, chegar a ti em cada coisa, e a cada momento oferecer-te meu amor / Permite que de mim reste apenas aquele pouco com o qual eu jamais possa te esconder / Permite que de minhas correntes reste apenas aquele pouco com o qual eu fique ligado à tua vontade, aquele pouco com o qual teu projeto se realiza em minha vida: a corrente de teu amor”.

O amor e o poder
Em recente entrevista, o teólogo Leonardo Boff afirmou que, para o bem da Igreja Católica, o próximo papa deveria ser um apóstolo, um homem escolhido fora da estrutura de poder da instituição, atolada em práticas delituosas que nem sempre vieram à tona, como aconteceu agora com o chamado Vatileaks, o vazamento de documentos secretos do Vaticano, e a explosão de escândalos sexuais e corrupção financeira envolvendo religiosos. “Onde há poder inexiste amor e desaparece a misericórdia”, disse Boff.
Desconfio dessa incompatibilidade que o teólogo supõe. Afinal, Deus é amor e poder. O amor em si é poder, a fonte do eterno movimento. No universo, é o amor que cria, sustenta e destrói (transforma). Talvez devêssemos rever o nosso conceito de poder e, antes disso, a nossa visão do amor e, certamente, a do bem e do mal. Mas isso não nos impede de constatar o óbvio ao longo da história: o poder quase sempre se manifesta com sua face autoritária e impiedosa, sufocando a equanimidade do amor e da compaixão. No dia a dia, esta é a regra: o poder corrompe, esmaga o sonho e aprisiona o amor, frustrando seu voo sem limites. O poder se nutre da ilusão das estruturas, as quais nos embriagam com o jogo das formas, afastando-nos da essência da vida.
A Igreja, com o seu centro de poder absolutista, é um exemplo acabado desse mal congênito de todas as megaestruturas erguidas à sombra dos ideais -- da religião à política. Logo, a possibilidade de um colégio de cardeais indicar um papa apóstolo, à maneira dos que seguiram Jesus de perto, é uma possibilidade tão rara quanto um asteróide chocar-se com a Terra.
Apóstolos costumam ser imobilizados e ocultados nos labirintos das estruturas. Quando muito, por sua resistência, conseguem manter bruxuleantes a chama do ideal sob a penumbra do poder, evitando a treva absoluta. Até aqui, praticamente todos os que exerceram o apostolado puro e indomável, nas religiões ou na ação laica, fizeram-no à margem das estruturas ou em meio a batalhas com o poder que elas sustentam.
“Em casa que muito cresce, o amor desaparece”, dizia, em sua simplicidade, o médium mineiro Chico Xavier. Mesmo ele, que atuou no espaço de uma religião jovem e que surgiu como contestadora do poder das estruturas – o Espiritismo -, a certa altura precisou reagir ao cerco da burocracia institucional, refugiando-se em sua casa para reconquistar a espontaneidade e a criatividade de sua missão.
Em longo prazo, só haverá saída para a Igreja formal se ela alterar profundamente sua organização secular, o que ameaça interesses nada sagrados por trás dos altares. Em longo prazo, mesmo essa atitude audaciosa pode levar ao fim do Catolicismo, sem que isso signifique o apagar da chama do Nazareno. Em longo prazo, a desorganização das religiões cristãs organizadas pode ser a única saída para a sobrevivência do Evangelho e sua força renovadora.
05/03/2013
Em recente entrevista, o teólogo Leonardo Boff afirmou que, para o bem da Igreja Católica, o próximo papa deveria ser um apóstolo, um homem escolhido fora da estrutura de poder da instituição, atolada em práticas delituosas que nem sempre vieram à tona, como aconteceu agora com o chamado Vatileaks, o vazamento de documentos secretos do Vaticano, e a explosão de escândalos sexuais e corrupção financeira envolvendo religiosos. “Onde há poder inexiste amor e desaparece a misericórdia”, disse Boff.
Desconfio dessa incompatibilidade que o teólogo supõe. Afinal, Deus é amor e poder. O amor em si é poder, a fonte do eterno movimento. No universo, é o amor que cria, sustenta e destrói (transforma). Talvez devêssemos rever o nosso conceito de poder e, antes disso, a nossa visão do amor e, certamente, a do bem e do mal. Mas isso não nos impede de constatar o óbvio ao longo da história: o poder quase sempre se manifesta com sua face autoritária e impiedosa, sufocando a equanimidade do amor e da compaixão. No dia a dia, esta é a regra: o poder corrompe, esmaga o sonho e aprisiona o amor, frustrando seu voo sem limites. O poder se nutre da ilusão das estruturas, as quais nos embriagam com o jogo das formas, afastando-nos da essência da vida.
A Igreja, com o seu centro de poder absolutista, é um exemplo acabado desse mal congênito de todas as megaestruturas erguidas à sombra dos ideais -- da religião à política. Logo, a possibilidade de um colégio de cardeais indicar um papa apóstolo, à maneira dos que seguiram Jesus de perto, é uma possibilidade tão rara quanto um asteróide chocar-se com a Terra.
Apóstolos costumam ser imobilizados e ocultados nos labirintos das estruturas. Quando muito, por sua resistência, conseguem manter bruxuleantes a chama do ideal sob a penumbra do poder, evitando a treva absoluta. Até aqui, praticamente todos os que exerceram o apostolado puro e indomável, nas religiões ou na ação laica, fizeram-no à margem das estruturas ou em meio a batalhas com o poder que elas sustentam.
“Em casa que muito cresce, o amor desaparece”, dizia, em sua simplicidade, o médium mineiro Chico Xavier. Mesmo ele, que atuou no espaço de uma religião jovem e que surgiu como contestadora do poder das estruturas – o Espiritismo -, a certa altura precisou reagir ao cerco da burocracia institucional, refugiando-se em sua casa para reconquistar a espontaneidade e a criatividade de sua missão.
Em longo prazo, só haverá saída para a Igreja formal se ela alterar profundamente sua organização secular, o que ameaça interesses nada sagrados por trás dos altares. Em longo prazo, mesmo essa atitude audaciosa pode levar ao fim do Catolicismo, sem que isso signifique o apagar da chama do Nazareno. Em longo prazo, a desorganização das religiões cristãs organizadas pode ser a única saída para a sobrevivência do Evangelho e sua força renovadora.

Outro Olhar
por Jomar Morais, jornalista e editor do Planeta Jota
crônicas publicadas originalmente no Novo Jornal
por Jomar Morais, jornalista e editor do Planeta Jota
crônicas publicadas originalmente no Novo Jornal
Estamos resgatando, gradualmente, as crônicas de Jomar Morais escritas em 2014, deletadas devido a erro humano durante a atualização do blog. Pedimos desculpas aos leitores pelo transtorno causado.